
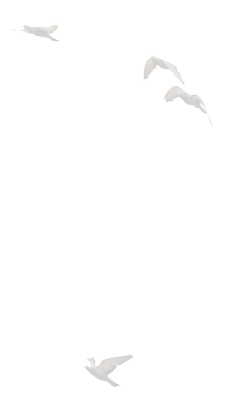

Introdução: a ressurreição do teísmo
Summary
Este artigo é a introdução do doutor Craig ao volume 3 do periódico Truth sobre “novos argumentos para a existência de Deus”. Traça o ressurgimento em nossos dias da filosofia das religiões e interage brevemente com o pensamento de importantes filósofos teístas como Plantinga, Swinburne e Leslie.
Fonte: Truth: A Journal of Modern Thought, vols. 3 & 4 (1991): "New Arguments for the Existence of God"
Lá por meados da década de 1960, a revista Time apresentou sua matéria principal pela qual a capa daquela edição ficou totalmente preta, com exceção de três palavras estampadas no fundo escuro com letras vermelhas brilhantes: “DEUS ESTÁ MORTO?”. O artigo descrevia o movimento da “morte de Deus”, então corrente na teologia americana. Parafraseando Mark Twain, parecia que a notícia da morte de Deus tinha chegado prematura. Ao mesmo tempo que teólogos escreviam o obituário de Deus, filósofos descobriam Sua vitalidade. Poucos anos após a edição sobre a “morte de Deus”, Time trouxe uma história com capa semelhante de letras vermelhas sobre o fundo preto, mas desta vez com o título: “Deus estaria voltando à vida?”. De fato, foi assim que pareceu aos coveiros teológicos dos anos de 1960. Durante a década de 1970, interesse em filosofia da religião continuou a crescer. Já em 1980, Time se viu publicando reportagem extensa com o título: “A modernização do argumento em defesa de Deus”, que descrevia o movimento contemporâneo entre filósofos da religião no sentido de renovar os argumentos tradicionais para a existência de Deus. Time se mostrou maravilhada:
Numa revolução silenciosa no pensamento e argumento que dificilmente alguém poderia ter previsto apenas duas décadas atrás, Deus está voltando à cena. O mais intrigante é que isto ocorre não entre teólogos ou crentes comuns, mas nos resolutos círculos de filósofos acadêmicos, onde o consenso há muito banira o Todo-poderoso do debate construtivo. [1]
De acordo com o artigo, o destacado filósofo americano Roderick Chisholm crê que a razão por que o ateísmo era tão influente uma geração atrás se explica pelo fato dos filósofos mais brilhantes serem ateus; porém, diz ele, hoje em dia muitos dos filósofos mais brilhantes são teístas e lançam mão de intelectualismo robusto em defesa desse teísmo.
Este volume de Truth tenta trazer a seus leitores algumas dessas defesas do teísmo por parte de muitas das mentes mais brilhantes, bem como críticas por parte de alguns dos principais detratores do teísmo. Nesta Introdução, espero auxiliar o leitor, explicando parte do debate em que os outros artigos se contextualizam e propondo comentários pessoais sobre alguns desses artigos.
I.
Um dos avanços mais empolgantes no campo da epistemologia religiosa é a tendência, liderada por Alvin Plantinga, de defender a racionalidade da crença teísta não com base no argumento. De acordo com Plantinga, a crença de que Deus existe é o que ele chama de crença “apropriadamente básica”, isto é, ela não se baseia na inferência de outras crenças, mas é garantida racionalmente nas circunstâncias da experiência imediata que o indivíduo tem de Deus. Pois bem, deve-se confessar que este ponto de vista não é completamente novo: como Roy Varghese observa em sua entrevista com Plantinga (ver Sumário), boa parte do mesmo tipo de epistemologia religiosa já há tempos é adotado por Hick, Mascall, dentre outros. Por que, então, Plantinga recebeu tanta atenção por suas realizações em epistemologia religiosa? A resposta, segundo penso, é dupla: (i) Plantinga, diferentemente de seus colegas epistemólogos, desenvolve seu argumento totalmente dentro do contexto e em diálogo embasado no que há de mais atual na filosofia analítica contemporânea. Assim, ele é muito feliz ao apresentar o que denomina de “objeção reformada à teologia natural” como crítica — por mais hesitante, implícita e incipiente que seja — da posição do fundacionalismo epistemológico. Com isso, Plantinga deságua na corrente principal do debate epistemológico contemporâneo. (ii) A posição de Plantinga como um dos principais filósofos dos Estados Unidos assegurou que qualquer via que ele explorasse na sequência de seu livro memorável The Nature of Necessity [A natureza da necessidade] fosse acompanhada com grande interesse. Tendo já feito importantes contribuições à filosofia da religião no que diz respeito ao argumento ontológico e ao problema do mal, era de se esperar que o tratamento de Plantinga de questões de epistemologia religiosa fosse intrigante e frutífero.
Em God and Other Minds [Deus e outras mentes], Plantinga já fizera uma primeira incursão na direção da racionalidade do teísmo não baseada no argumento, sustentando que, se é racional crer na existência de outras mentes além da sua própria, é racional crer em Deus. [2] O argumento analógico para outras mentes é paralelo ao argumento teológico para a existência de Deus. Embora os dois argumentos sucumbam à mesma falha, ainda é racional crer em outras mentes e, consequentemente, pari passu, em Deus. James Tomberlin indicou que o argumento de Plantinga supõe que a crença em Deus seja básica, ou seja, não-inferencial, [3] e em sua obra posterior foi exatamente esta linha que Plantinga seguiu.
Em “The Reformed Objection to Natural Theology” [A objeção reformada à teologia natural], Plantinga ataca o que denomina de objeção evidencialista à crença teísta. [4] De acordo com o evidencialista, alguém é justificado racionalmente para crer que uma proposição seja verdadeira, somente se tal proposição for fundacional ao conhecimento ou estabelecida por indícios que, em última instância, baseiam-se neste fundamento. Segundo este ponto de vista, visto que a proposição “Deus existe” não é fundacional, seria irracional crer nela sem indícios racionais para sua verdade. Plantinga, porém, pergunta: por que a proposição “Deus existe” não pode ser por si mesma parte do fundamento, de modo que nenhum indício racional seja necessário? O evidencialista responde que somente proposições apropriadamente básicas podem ser parte do fundamento do conhecimento. Quais, pois, são os critérios que determinam se uma proposição é ou não apropriadamente básica? Normalmente, o evidencialista afirma que apenas proposições autoevidentes ou incorrigíveis são apropriadamente básicas. Por exemplo, a proposição “a soma dos quadrados dos lados de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa” é autoevidentemente verdadeira. Da mesma forma, a proposição “sinto dor” é incorrigivelmente verdadeira, uma vez que, se estou apenas imaginando minha lesão, ainda assim é verdade que sinto dor. Como a proposição “Deus existe” não é nem autoevidente nem incorrigível, de acordo com o evidencialista ela não é apropriadamente básica e, portanto, requer indícios para que se creia nela. Crer nessa proposição sem indícios é, portanto, irracional.
Ora, Plantinga não nega que proposições autoevidentes e incorrigíveis sejam apropriadamente básicas, mas se pergunta: “como sabemos que elas são as únicas proposições ou crenças apropriadamente básicas?”. Ele apresenta duas considerações para provar que tal condição é restritiva demais. (i) Se apenas proposições autoevidentes e incorrigíveis são apropriadamente básicas, somos todos irracionais, uma vez que comumente aceitamos inúmeras crenças que não são baseadas em provas e que não são nem autoevidentes nem incorrigíveis. Por exemplo, considere a crença segundo a qual o mundo não foi criado cinco minutos atrás com traços de memória, comida em nossos estômagos de cafés da manhã que nunca tomamos e outras aparências de idade, todos já incorporados. Com certeza, é racional crer que o mundo existe há mais tempo que cinco minutos, embora não haja como prová-lo. Os critérios do evidencialista para basicidade apropriada devem ser falhos. (ii) De fato, o que dizer da situação desses critérios? Será que a proposição “apenas proposições autoevidentes ou incorrigíveis são apropriadamente básicas” é por si mesma apropriadamente básica? Aparentemente não, pois com certeza não é nem autoevidente nem incorrigível. Logo, se é para crermos nessa proposição, devemos ter indícios de que seja verdadeira. Tais indícios, contudo, não existem. A proposição parece ser justamente uma definição arbitrária — e, nesse sentido, não muito plausível! Assim, o evidencialista não pode excluir a possibilidade de que a crença em Deus seja também uma crença apropriadamente básica.
Na realidade, Plantinga sustenta, seguindo Calvino, que a crença em Deus é apropriadamente básica. O homem possui uma capacidade natural e inata de apreender a existência de Deus, assim como possui uma capacidade natural para aceitar verdades da percepção (como “vejo uma árvore”). Dadas as circunstâncias adequadas — como momentos de culpa, gratidão ou um senso da obra divina na natureza —, o homem naturalmente apreende a existência de Deus. Plantinga, portanto, insiste que sua epistemologia não é fideísta, uma vez que existem circunstâncias que fazem a crença em Deus uma crença apropriadamente básica. Na verdade, pode ser mais correto, admite ele, dizer que a proposição “Deus existe” não seja por si mesma apropriadamente básica, mas fique subentendida graças a outras crenças verdadeiramente básicas, como “Deus está me convencendo do pecado” ou “Deus está falando comigo”. Por isso, é perfeitamente racional que alguém creia em Deus sem quaisquer indícios.
Em “Reason and Belief in God” [Razão e crença em Deus], Plantinga desenvolveu esses pensamentos em nível de detalhamento ainda mais considerável e endossou a “compreensão central” dos reformadores de que “a maneira correta ou apropriada de crer em Deus... não era com base em argumentos da teologia natural ou de qualquer outro lugar; a maneira correta é entender a crença em Deus como básica”. [5] Ele faz cinco afirmações centrais nesse sentido: (i) Entender a crença em Deus como apropriadamente básica não compromete ninguém com a visão relativista segundo a qual praticamente qualquer crença pode ser apropriadamente básica. Ele indica que é possível reconhecer crenças apropriadamente básicas sem ter um critério explícito de basicidade apropriada. Por isso, o teísta cristão pode rejeitar a basicidade apropriada de outras crenças — como a crença na Grande Abóbora —, mesmo que careça de um critério para basicidade apropriada e sustente que a crença em Deus seja apropriadamente básica. (ii) Embora apropriadamente básica, a crença na existência de Deus não é infundada. Como certas crenças perceptuais, tal qual “vejo uma árvore”, são apropriadamente básicas dadas as circunstâncias adequadas, assim também a crença em Deus é apropriadamente básica em certas circunstâncias adequadas. Nem a existência da árvore nem a de Deus são inferidas da experiência das circunstâncias. É, no entanto, ao estar nas circunstâncias adequadas que a crença se torna apropriadamente básica; a crença seria irracional, caso fosse mantida em circunstâncias inadequadas. Assim, a crença na existência de Deus não é arbitrária ou gratuita, pois é mantida apropriadamente por uma pessoa situada em circunstâncias adequadas. (iii) Uma pessoa que aceita a crença em Deus como apropriadamente básica pode estar aberta a argumentos contra tal crença. Alguém pode apresentar-lhe argumentos contra o teísmo baseados em proposições e formas argumentativas que ele também aceita como básicas. Estes contra-argumentos se tratam de derrotadores de sua crença básica em Deus; se é para tal crença continuar-lhe racional, esse alguém deve encontrar algum derrotador do derrotador. Do contrário, será forçado a abandonar algumas de suas crenças básicas a fim de restaurar a coerência em sua estrutura noética, e o teísmo pode muito bem ser a crença que ele escolha descartar. (iv) Entender a crença em Deus como apropriadamente básica não é uma forma de fideísmo. As deliberações da razão incluem não apenas proposições inferidas, mas também proposições entendidas como básicas. Deus nos dispôs de tal maneira que naturalmente formamos a crença em Sua existência em circunstâncias adequadas, assim como cremos em outras mentes, objetos perceptuais e assim por diante. Portanto, a crença em Deus está entre as deliberações da razão, e não da fé.
O trabalho de Plantinga na área de epistemologia religiosa é muito bem-vindo, pois ele habilmente consegue caminhar entre a cruz do racionalismo teológico (Plantinga o denomina “evidencialismo”) e a espada do fideísmo de um modo totalmente condizente com o ensino bíblico. Todavia, ao menos duas questões precisam de mais esclarecimentos: (1) o teísta tem conhecimento de que Deus existe ou será que sua crença é puramente racional? (2) Qual é a relação entre uma crença apropriadamente básica e uma crença incompatível baseada em indícios?
Em relação à primeira questão, Plantinga concorda que a racionalidade não tem nenhuma conexão necessária com a verdade. Em certas circunstâncias, talvez seja racional aceitar uma crença que é, na realidade, falsa, ou rejeitar uma crença que é, afinal, verdadeira. Talvez os indícios à disposição sejam preponderantes para uma crença que é, sem que saibamos, falsa, ao passo que os indícios para a crença verdadeira são escassos ou contraditórios. O mesmo se pode dizer de crenças apropriadamente básicas. É racional, por exemplo, crer que o mundo não foi criado cinco minutos atrás. Mas talvez tenha sido! Pois bem, isto suscita a pergunta óbvia: como é que sabemos que nossa crença na existência de Deus, embora seja apropriadamente básica e racional, não é, todavia, falsa? A princípio, Plantinga pareceu inclinado a descartar o problema, alegando que tudo que podemos realmente esperar alcançar é racionalidade, e não verdade. Enquanto mentes finitas e falíveis, nosso dever epistêmico é ser racional, e não atingir a verdade. Isto, porém, deixa o teísta na posição muito inquietante de não conseguir dizer como ou se ele tem conhecimento de que Deus existe, podendo, no fim das contas, levar ao ceticismo. Ultimamente, portanto, Plantinga passou a empenhar-se em propor uma explicação do que significa à crença ser conhecimento. [6] Aceitando a definição tradicional de conhecimento como crença verdadeira justificada, Plantinga rejeita explicações coerentistas e fiabilistas e procura desenvolver uma explicação distintamente teísta da justificação. Embora nas obras supracitadas Plantinga fale repetidas vezes que uma crença apropriadamente básica é justificada, tal linguagem pode provocar equívocos, uma vez que Plantinga não está abordando a questão da justificação à medida que desempenha seu papel no conceito de conhecimento. Antes, ele está discutindo o direito epistêmico de uma pessoa (neste sentido, justificada) de aceitar uma crença não-inferencialmente ou basicamente. Traria menos equívocos, penso eu, dizer que uma pessoa que forma uma crença básica nas circunstâncias adequadas está racionalmente garantida em aceitar tal crença. Ainda continua a pergunta acerca da justificação dessa crença, que se trataria, então, de conhecimento à pessoa envolvida. Em seu primeiro artigo para este volume, Plantinga procura tratar desta questão propondo uma explicação da justificação segundo a qual uma crença é justificada se as faculdades cognitivas da pessoa estão funcionando apropriadamente — ou seja, como Deus as designou —, ao formar tal crença. Ele afirma que o teísta tem uma resposta pronta à pergunta do que significa nossas faculdades cognitivas funcionarem corretamente, ao passo que o ateu não consegue oferecer uma resposta a esta pergunta. Tomando a sugestão da afirmação de Calvino de que existe no homem um sensus divinitatis inato, Plantinga mantém que Deus nos constituiu de tal maneira que naturalmente formamos a crença na existência de Deus quando situados nas circunstâncias adequadas. É apenas devido ao pecado que pessoas nas circunstâncias adequadas não formem tal crença; são, de fato, cognitivamente disfuncionais. Em seu “Autorretrato” no recente volume em homenagem a Alvin Plantinga, ele deixa claro que, em sua opinião, uma pessoa cujas faculdades cognitivas funcionem apropriadamente em circunstâncias adequadas e que, assim, forma a crença na existência de Deus tem crença verdadeira justificada ou conhecimento da existência de Deus:
Assim como temos a tendência natural a formar crenças perceptuais sob certas condições, como diz Calvino, também temos a tendência natural a formar crenças como Deus está falando comigo ou Deus criou isto tudo ou Deus reprova o que fiz sob condições amplamente compreendidas. E uma pessoa que, nessas condições, forma uma dessas crenças, está em seu direito epistêmico, não exibindo nenhum defeito epistêmico; de fato, pensa Calvino, tal pessoa conhece a proposição em questão... Em suma, à maneira reformada ou calvinista de enxergar a questão, uma pessoa que aceita a crença em Deus como básica pode estar totalmente em seu direito epistêmico, não exibindo, portanto, nenhum defeito ou falha em sua estrutura noética; de fato, sob essas condições ela talvez tenha conhecimento de que Deus existe. Isto me parece correto. [7]
Para Plantinga, então, uma pessoa que forma a crença na existência de Deus em circunstâncias adequadas tem conhecimento de que Deus existe.
Isto nos leva, pois, â segunda questão, a relação entre uma crença apropriadamente básica e uma crença incompatível apoiada por indícios. Conquanto os detratores de Plantinga tenham caracterizado seu ponto de vista como fideísta, [8] minha preocupação aqui é exatamente o oposto: que Plantinga pareça estar à beira de cair numa espécie de criptoevidencialismo. Ao considerar se uma pessoa que mantém sua crença em Deus como apropriadamente básica está aberta ao argumento, Plantinga parece permitir que tal crença em Deus assim mantida possa ser superada pelo argumento, de modo que o teísta, para ser racional, talvez tenha de abandonar sua crença em Deus. É verdade que Plantinga afirma que o teísta nesta situação talvez abandone a crença em uma das premissas do argumento ou na própria forma argumentativa, mas permanece o fato de que, se o teísta tem um maior grau de crença nessas premissas e formas argumentativas, é o teísmo que deve ir embora. Se ele está inseguro daquilo em que acredita mais intensamente, permanecerá em dúvida, numa situação existencial destrutiva da vida espiritual. Plantinga claramente nega que uma pessoa que entende a crença em Deus como básica continua racionalmente garantida em tal crença, independentemente dos argumentos ou indícios contrários que venham a surgir. [9] As circunstâncias que fundamentam sua crença conferem apenas uma justificação prima facie, e não uma justificação ultima facie, a tal crença. Anteriormente, em “Reason and Belief” [Razão e crença], Plantinga se preocupara em mostrar que um teísta de quatorze anos de idade era racional ao crer em Deus sem qualquer argumento ou prova. Agora, porém, voltando ao exemplo, ele contempla uma situação em que esse rapaz deva desistir de sua fé:
Como o teísta de quatorze anos de idade..., talvez eu tenha sido criado para acreditar em Deus e esteja inicialmente no meu direito de fazê-lo. Pode ser, no entanto, que surjam condições em que talvez eu não seja mais justificado nessa crença. Talvez você me proponha um argumento conclusivo de que é impossível haver uma pessoa como Deus. Se o argumento me for convincente — se partir de premissas que me pareçam autoevidentes e continuar por formas argumentativas que pareçam autoevidentemente válidas —, talvez eu não seja mais justificado em aceitar a crença teísta. [10]
Plantinga denomina uma condição que supera minha justificação prima facie para p de derrotador de minha crença que p. Pois bem, muitos foram criados crendo em Deus, observa Plantinga, mas então depararam com diversos possíveis derrotadores de tal crença. “Se é para o crente continuar justificado, exige-se algo além — algo que prima facie derrote os derrotadores”. [11] E esta a tarefa da apologética teísta. Por exemplo, se sou confrontado com o problema antiteísta do mal, “o que se exige, se for para eu continuar a crer racionalmente, é um derrotador desse derrotador”, como a “defesa do livre-arbítrio”. [12]
Penso que isso seja muito inquietante. Já que quase todo adulto teísta inteligente é bombardeado ao longo de seus estudos e vida adulta com multifacetados derrotadores do teísmo, parece que para muitíssimas, se não quase todas, pessoas o argumento e indícios racionais serão indispensáveis para a manutenção de sua fé. Mas aí a crença de que Deus existe será dificilmente comparável a outras crenças básicas, como “vejo uma árvore” ou “tomei café da manhã hoje de manhã”, pois terá de ser cercada por cidadela enorme e construída com sofisticação, repleta de armamentos defensivos para afastar o inimigo. No caso, é de se perguntar quanto se ganhou ao tornar a crença em Deus apropriadamente básica. Uma fé destas é muito díspar daquela discutida pelos teólogos reformados em cujo vagão Plantinga alega estar. É verdade que as defesas apologéticas que alguém possui não se destinam agora a prover a base inferencial de sua crença teísta, como indica Plantinga. [13] O fracasso do problema antiteísta do mal não constitui, por exemplo, indício a favor da existência de Deus. Somente se os derrotadores do derrotador que alguém possui tomarem a forma de argumentos apologéticos positivos ou ofensivos — por exemplo, derrotar o problema do mal argumentando a partir da existência do mal a favor da objetividade de valores e, portanto, a favor de Deus por meio de argumento moral —, sua crença em Deus talvez deixe de ser básica por causa de sua apologética (isso ocorreria somente se esse alguém também considerasse sua crença teísta como se fosse inferida a partir de seu argumento, e não apenas confirmada por ele). Também é verdade que, de acordo com Plantinga, o derrotador do derrotador que alguém possui não precisa ser um argumento sofisticado, mas talvez simplesmente o conhecimento de que outra pessoa argumentou de forma responsável contra o derrotador. Mesmo com todas essas restrições, ainda permanece o fato de que, para que a fé que alguém possui seja racional, uma boa dose de argumento e prova talvez seja necessária para o crente. Então, embora Plantinga não caia de volta no evidencialismo per se, ele parece esboçar uma espécie de neoevidencialismo. Segundo Plantinga, “o objetor evidencialista... deveria ser compreendido como se mantivesse que o teísta que crê sem provas viola, pois, uma obrigação intelectual ou, em todo caso, exibe uma estrutura noética falha”. [14] Com respeito à maioria dos crentes adultos e inteligentes, contudo, esta é uma afirmação com a qual Plantinga deve estar em plena concordância. A crença em Deus desacompanhada de provas é irracional.
O problema com uma epistemologia religiosa desse tipo, ao que me parece, é que ela ainda, como o racionalismo teológico, sancione o que Martinho Lutero denominou de uso magistral da razão. Ou seja, a crença teísta ainda está sujeita a possíveis derrotadores racionais e não pode ser mantida racionalmente, a menos que tais derrotadores sejam derrotados. Um pouco de reflexão, porém, mostrará que uma epistemologia dessas é tão inadequada religiosamente quanto o evidencialismo. Considere, por exemplo, um jovem estudante alemão de criação luterana pietista que, desejoso de virar pastor, parte para a Universidade de Marburgo para estudar teologia. Ali ele se senta aos pés de diversos professores de linha bultmanniana e vê sua fé teísta ortodoxa constantemente sob ataque. Ele procura por respostas, mas não encontra nenhuma, seja em suas leituras, seja em discussões com outras pessoas. Ele se sente completamente indefeso diante das críticas de seus professores, não tendo nada além da realidade de sua própria experiência de um Deus pessoal para opor aqueles argumentos. Pois bem, na perspectiva de Plantinga conforme explicada até o momento, o estudante parece ser irracional ao continuar a crer em Deus; ele tem uma obrigação epistêmica de desistir de sua fé. Mas é óbvio que isto é inconcebível, pois transforma o ser crente teísta em questão de acidente histórico e geográfico. A algumas pessoas, simplesmente faltam a capacidade, tempo ou recursos para oferecer derrotadores bem-sucedidos dos derrotadores antiteístas com os quais deparam. Plantinga alega ter mostrado que não há, até onde ele sabe, nenhum derrotador irrefutável do teísmo. Até aí, tudo bem, mas o que dizer dos milhões de pessoas anteriores a Plantinga que não eram tão geniais, que não viram, por exemplo, a distinção entre uma defesa e uma teodiceia e que, como Plantinga, acharam todas as propostas deste último tipo “tépidas, rasas e, em última instância, frívolas”? [15] Até mesmo o colega de Plantinga, Philip Quinn, ele mesmo destacado filósofo teísta, confessa que não enxerga nenhuma solução ao problema do mal e, portanto, tem “muitas razões significativas” para crer que Deus não exista. [16] A questão não é se Quinn está correto — de fato, Plantinga, ao que me parece, propõe derrotadores dos supostos derrotadores do teísmo —, mas, sim, que deve haver milhões de pessoas como Quinn que, por fatores contingentes de geografia e história, ficam desorientados quanto à maneira de responder às objeções ao teísmo com as quais deparam. Será que lhes negaremos, sob pena de irracionalidade, o gozo e privilégio da fé pessoal em Deus? Se sim, será que estarão, então, eternamente perdidos por não crer em Deus? Responder afirmativamente parece impensável, mas responder negativamente parece contrário ao ensinamento bíblico segundo o qual todos os homens são “indesculpáveis”, se não creem em Deus (Romanos 1.20). Enquanto retivermos o uso magistral da razão, o aguilhão do evidencialismo não será removido.
É por esta razão, portanto, que o esclarecimento e desenvolvimento de Plantinga de sua visão sobre o relacionamento entre uma crença básica e possíveis derrotadores na segunda seleção neste volume é tão bem-vinda. Nessa seleção, que se trata de um trecho de sua réplica a Quinn, Plantinga trata da questão da possibilidade de um adulto intelectualmente sofisticado entender a crença em Deus como apropriadamente básica. Ao lidar com derrotadores da crença teísta, Plantinga agora diferencia entre dois tipos de refutação que o teísta pode oferecer: ele pode produzir um derrotador redutor para o suposto derrotador, isto é, mostrar que o derrotador não foi provado; ou ele pode oferecer um derrotador refutador, isto é, mostrar que o suposto derrotador é falso. Podemos designar os dois tipos de respostas como derrotadores refutatórios, pois atacam o próprio suposto derrotador e almejam mostrar que ele não é racionalmente convincente. Existe, entretanto, outra maneira de derrotar um suposto derrotador: pode-se produzir o que podemos chamar de derrotador preponderante do derrotador, ou seja, produzir um derrotador que, embora não refute diretamente o possível derrotador, supera-o em garantia e lhe é incompatível, de modo que o possível derrotador é dominado pelo novo derrotador. Ora, o que Plantinga pergunta é por que alguma crença em si pode não ter garantia suficiente para preponderar em relação a seus possíveis derrotadores; seria, no caso, um derrotador intrínseco do derrotador. Ele propõe a envolvente ilustração de alguém que sabe que não cometeu um crime, mas contra o qual se opõem todos os indícios. Tal pessoa é perfeitamente racional ao crer em sua inocência, mesmo que não possa refutar os indícios contra si. Igualmente, diz Plantinga, por que a crença em Deus não poderia ser tão garantida que constitui um derrotador intrínseco de quaisquer considerações trazidas contra si?
Com isto, Plantinga se colocou, segundo penso, na direção dos reformadores e do Novo Testamento. Para os teólogos reformados, a base da fé que poderia suportar qualquer ataque racional era o testimonium spiritu sancti internum. Para Calvino, a apologética era uma disciplina útil para confirmar o testemunho do Espírito, mas não era de forma alguma necessária. Um crente desinformado demais ou desprovido das ferramentas para refutar argumentos antiteístas seria racional ao crer com base no testemunho do Espírito em seu coração, mesmo diante dessas objeções irrefutadas. A doutrina do reformador se fundamentava diretamente no ensinamento neotestamentário sobre a obra do Espírito Santo. Segundo Paulo e João, é o testemunho interno do Espírito Santo que provê a certeza última de que a fé do indivíduo é verdadeira (Gálatas 4—6; Romanos 8.15-16; João 14.16-26; 1João 2.20, 26-27; 3.24; 4.13; 5.7-10a). Paulo emprega o termo plerophoria (confiança total, plena segurança) para indicar a certeza que o crente possui como consequência da obra do Espírito (Colossenses 2.2; 1Tessalonicenses 1.5; cf. Romanos 4.21; 14.5; Colossenses 4.12). Tampouco a obra do Espírito se restringe aos crentes; Ele opera nos corações dos descrentes para atraí-los para Deus (João 16.7-11). Ser teísta, portanto, não é questão relegada a acidente histórico e geográfico; mesmo uma pessoa confrontada com o que lhe são objeções incontestáveis ao teísmo está, por causa da obra do Espírito Santo, em seu direito epistêmico — sim, na obrigação epistêmica — de crer em Deus.
Parece-me, pois, que o teísta bíblico deve manter que, dentre as circunstâncias que garantem racionalmente e, de fato, justificam a crença teísta está o testemunho do Espírito Santo e que garantia não-proposicional é derrotador intrínseco de qualquer possível derrotador que seja trazido contra si. É aí que os artigos de William Alston e Illtyd Trethowan sobre a experiência religiosa e moral como fundamentos para a crença apropriadamente básica em Deus se tornam relevantes. Embora suas perspectivas filosóficas sejam distintas, cada um deles tenta a seu próprio modo mostrar como uma experiência imediata de Deus constitui as circunstâncias para o conhecimento não-inferencial da existência de Deus.
II.
Mesmo que não se concorde que a crença em Deus é uma crença verdadeira apropriadamente básica e justificada, este fato não esvazia o teísmo argumentativo de toda sua relevância, pois a formulação de argumentos corretos e a refutação de objeções ao teísmo são uma empreitada importante que serve de confirmação da fé do crente e talvez de persuasão ao descrente para adotar a crença teísta. O artigo de C. Stephen Evans, que abre essa seção, esboça muito bem alguns dos prolegômenos à teologia natural e se concentra em particular no “sinal de transcendência” na pessoalidade humana. Evans se posiciona na tradição de Pascal (embora sem o desdém deste em relação a provas filosóficas do teísmo) em sua ênfase na basicidade apropriada da crença teísta (cf. “razões do coração”), no fato de sermos criados em distância epistêmica de Deus, de modo a não ser coagidos racionalmente à crença (cf. o dito de Pascal segundo o qual Deus nos deu indícios claros o suficiente para convencer quem tem o coração aberto, mas vagos o suficiente para não coagir quem tem o coração fechado), no risco do ateísmo e na necessidade de envolvimento existencial nessa busca (cf. a aposta de Pascal) e no mistério da pessoalidade humana (cf. “Que quimera é, então, o homem?”). Os comentários de Evans sobre “o ônus da prova” podem ser proveitosamente contrastados em seu artigo com o relato de Nielsen. Uma das características gerais mais salutares da abordagem de Evans é que leva a sério o tipo de temas desenvolvidos no existencialismo e interage com eles enquanto teísta. Boa parte da filosofia da religião se tornou uma espécie de jogo com uma plateia, mas Evans nos lembra que estamos todos envolvidos na busca do sentido da vida e não podemos, portanto, nos dar ao luxo de adotar o ponto de vista do espectador desinteressado.
Trata-se de questões de vida ou morte, estamos todos envolvidos — goste disso ou não — e devemos decidir. Defesa cumulativa do teísmo pode ser construída, acredita ele, e os argumentos teístas tradicionais — alguns dos quais serão examinados neste volume — fazem parte dessa defesa.
O projeto da teologia natural que Evans e outros pretendem levar adiante, porém, sucumbiu, na mente de muitos, com as críticas propostas por David Hume e Immanuel Kant no século XVIII. Esta impressão persiste, como Hugo Meynell observa em seu artigo, a despeito do fato de que essas objeções dependem de um sistema que já foi energicamente refutado e rejeitado. Meynell não disserta tanto para reabilitar os argumentos tradicionais à luz das objeções de Hume e Kant, mas escolhe principalmente argumentar a favor de Deus num fundamento imune aos ataques delas. Argumenta que a inteligibilidade do universo aponta, como percebeu Kant, para uma fonte de inteligibilidade do ponto de vista da mente, mas, tomando a sugestão dos idealistas, passa a defender que a fonte não pode ser a mente humana, mas alguma Mente Absoluta. Ficaria interessado em ver como pensadores alemães reagiriam ao raciocínio de Meynell, que tanto apela às tradições filosóficas deles — tradições estas que, deve-se dizer, exercem novamente poderosa influência no pensamento teológico alemão.
Richard Swinburne, em consequência de sua trilogia Faith and Reason [Fé e razão], The Coherence of Theism [A coerência do teísmo] e The Existence of God [A existência de Deus], [17] surgiu como talvez o principal exponente internacional do teísmo argumentativo. Argumenta que os indícios cumulativos do argumento cosmológico, do argumento teológico, do argumento da mente, dos indícios de milagres e da experiência religiosa são tais que a hipótese de que Deus existe é mais provável do que sua negação. Embora críticos tenham atacado a análise e uso que Swinburne faz da noção de probabilidade, [18] parece-me que o valor de seus argumentos não tem êxito ou fracasso dependendo da estrutura da teoria de probabilidade em que ele os apresenta; que sua afirmação mais modesta no artigo deste volume, num breve resumo de suas argumentos, segundo a qual “a hipótese da existência de Deus faz sentido da totalidade da nossa experiência... e o faz melhor do que qualquer outra explicação que seja proposta”, tem êxito independentemente de quaisquer falhas que venham a ser encontradas na superestrutura epistemológica que ele apresenta.
O adversário de Swinburne foi seu predecessor na Universidade de Oxford, o já falecido John Mackie, cuja obra The Miracle of Theism [O milagre do teísmo], publicada postumamente, promoveu-o à posição de principal crítico do teísmo. De fato, em fenômeno que relembra o fluxo do deísmo do século XVII da Inglaterra para a Alemanha, resenhista alemão recente da tradução do livro de Mackie exclamou que a crença em Deus agora só podia parecer impossível, à luz das objeções de Mackie. Não obstante, quando analisadas, pode-se ver que muitas das objeções de Mackie são falsas e, na realidade, superficiais. [19] A seção final do artigo de Swinburne contém sua resposta a algumas críticas de Mackie a argumentos de Swinburne.
O professor H. D. Lewis nos convida em seu artigo a contemplar uma questão fundamental relacionada ao mistério da existência, uma questão que Aristóteles caracterizou como o ápice do deslumbre filosófico e que em minha própria vida me cativou quando era criança: como se explica a origem do universo? Apesar das asserções de Hume e Mackie, só posso concordar com Lewis que a noção do universo como se tivesse vindo à existência incausado a partir do não-ser não pode ser afirmada honestamente por alguém que busca sinceramente a verdade. Não obstante, como sustenta Lewis, não é também racionalmente inconcebível que o universo seja sem começo, que a série de eventos passados regresse ad infinitum? A ideia de que deve haver um ser transcendente em estado atemporal que trouxe à existência espaço e tempo talvez nos salte aos olhos como fantástica e incrível. O cenário menos incrível pareceria ser que não existe absolutamente nada e que, portanto, não há nada a ser explicado — mas, como diz Lewis, esta alternativa não nos está disponível. Deve-se admitir que uma causa transcendente do universo se trate de um mysterium tremendum et fascinans, tomando emprestada a expressão de Otto, mas creio que a análise não a mostra incoerente ou ininteligível. Na minha própria participação, levo o argumento de Lewis adiante e defendo que devemos concluir a favor de um criador pessoal do universo. Lewis recorre a outras considerações como a objetividade do valor moral, a complexidade do universo e a experiência religiosa a fim de tornar mais compreensível a natureza do criador do universo, e o esboço geral de uma teologia natural surge a partir daí.
Partindo de questões relacionadas à origem do universo para questões ligadas à natureza do universo, depara-se nas discussões contemporâneas com o tão polêmico “princípio antrópico”, que serviu para reacender o interesse no argumento teleológico para a existência de Deus. Swinburne toca no assunto em sua resposta à crítica de Mackie ao argumento. Swinburne parece obviamente correto ao dizer tanto que em um baralho de cartas existe uma forte suposição de ordem aleatória quanto que a descoberta de ordem por naipes e hierarquia em todos os conjuntos colhidos garante a inferência de que os outros conjuntos estejam assim dispostos. Igualmente, devemos crer tanto que a amostra ordenada do universo que observamos não tem descontinuidade com o todo quanto que tal ordenação exige uma explicação. A dificuldade com a aplicação de Swinburne é que, uma vez que as condições complexas do universo (diferentemente daquelas do baralho) são necessárias para nossa existência, não podemos observar nada além de uma amostra ordenada. O universo em geral poderia ser um deserto de caos, mas não deveríamos percebê-lo, pois necessariamente podemos observar apenas um segmento que contém condições requeridas para nossa existência. Este princípio — de que, necessariamente, a vida inteligente deve observar condições compatíveis com sua existência — veio a ser conhecido como o “princípio antrópico”. Proponentes do raciocínio antrópico se unem ao teísta ao sustentar que a ordem complexa do universo observável requer uma explicação além de coincidência por acaso, mas se afastam do teísta ao propor uma explicação do ponto de vista de algum tipo de universo mais amplo ou teoria de conjunto de mundos, segundo a qual o universo como um todo não é ordenado como o é nosso universo observável e que nossa observação do segmento ordenado (que surge por acaso) não é surpreendente, uma vez que nos é impossível observar algo além disso.
O filósofo que se ocupou mais detidamente com o princípio antrópico é John Leslie, de quem Swinburne faz alusão. Embora diga abertamente que não é nem cristão nem teísta tradicional, Leslie defendeu repetidas vezes que o delicado equilíbrio observado de condições exigidas para a existência de vida inteligente neste ponto da história cósmica requer uma explicação e que a explicação do projeto inteligente é superior a qualquer alternativa. Ele argumenta contra aqueles que causariam um curto-circuito na exigência de uma explicação contestando que, visto que o universo é único, a probabilidade de sua presente complexidade não pode ser avaliada, ou que, embora o equilíbrio de condições no universo seja improvável, ainda assim qualquer condição improvável será atingida uma vez e essa “uma vez” poderia ser a primeira vez. [20] De acordo com Leslie, sem a cosmologia do multiverso, a alegação de que nenhuma explicação da ordem do universo seja necessária é “risível”; é como se uma pessoa saísse incólume depois de ser metralhada a cinquenta metros de distância por cinquenta minutos e desse de ombros à necessidade de qualquer explicação para o porquê de estar vivo, dizendo que, ainda que improvável, poderia, sim, acontecer de todas as balas terem errado o alvo e que ele não estaria para ser indagado a esse respeito a menos que tal possibilidade tivesse se concretizado. [21] Para Leslie, as objeções convencionais ao argumento do projeto ameaçam atrasar o desenvolvimento da ciência, porque, se forem corretas, não haverá nenhuma razão para desenvolver cosmologias de multiversos, que são importantes para a ciência. Ele observa que não existe nenhum indício independente para a existência de multiversos exceto para a existência da própria vida inteligente e que a atração do cenário do multiverso para muitos cientistas mostra que eles reconhecem que o ajuste fino aparentemente presente no universo clama por uma explicação. Os indícios para o modelo do multiverso, porém, são igualmente indícios para um projetista inteligente. As duas hipóteses se tornam mais prováveis pelas características observadas do universo do que o seriam na ausência de tais características. Esta conclusão por si só, ao que me parece, é muitíssimo significativa, pois nos confronta com um dilema cujas duas soluções envolvem obrigações metafísicas. Postularemos Deus ou um multiverso? Conforme Leslie, esta é escolha que devemos fazer, se não decidirmos simplesmente ignorar o problema.
Até o momento, Leslie fez apenas incursões provisórias para arbitrar sobre o dilema, ainda que sua preferência seja clara. [22] Ele indica que a maioria das teorias de multiverso é obscura e incompleta e que a hipótese de Deus não é nem anticientífica nem mais obscura do que as outras teorias. Além disso, modelos individuais para gerar o conjunto de mundos podem ser criticados. Um proponente do multiverso talvez apele para a interpretação dos multiversos da física quântica ou para cosmologias inflacionárias envolvendo uma multiplicidade de universos-bolhas ou para modelos oscilantes em que os mundos existem em série no tempo ou para um universo espacialmente infinito de regiões causalmente disjuntas. Mas, por exemplo, o modelo oscilante é falho tanto do ponto de vista observacional quanto teórico, já que aparentemente não há nem densidade suficiente da matéria para encerrar o universo nem qualquer física para produzir uma reexpansão após uma contração. Modelos inflacionários têm seus problemas particulares, mas de todo modo ainda requerem determinadas condições precisas do universo em geral a fim de gerar bolhas. Em um universo espacialmente infinito sem partilhar em larga escala do delicado equilíbrio de condições em nossa região local, é muitíssimo mais provável que uma pequena área de ordem se desenvolvesse, e não que nossa região local fosse tão grande assim; ademais, à medida que nosso horizonte continua a expandir, não observamos um limite à ordem exibida em nossa região local, mas percebemos continuidade com a(s) região(ões) justaposta(s). Apesar destes problemas, há quem continue a crer em cenários de multiversos, opina Leslie, porque sentem que, sem eles, não há explicação para como a vida inteligente se originou. [23]
E o que dizer da hipótese de projeto divino? Leslie admite que, se concebermos Deus no sentido de um ser pessoal para cuja existência e atributos não há explicação, então o cenário de multiversos será preferível. Leslie, no entanto, defende o que caracteriza de conceito neoplatônico de Deus como a criatividade da exigência ética. Ou seja, se entendo Leslie corretamente, o universo existe assim porque o deveria; é moralmente necessário que um universo de agentes livres exista. Esta necessidade ética do universo tem em si uma espécie de poder criativo que faz o mundo existir. Se existe uma divindade pessoal, ela também é o resultado deste princípio mais fundamental. Presume-se que Leslie denomina este conceito de neoplatônico porque, conforme esta linha metafísica, o Uno, que toma o lugar do Bem de Platão, faz que o mundo venha a ser, sendo a primeira emanação a Mente, que, por sua vez, produz o mundo. O Deus do teísmo tradicional seria como a Mente de Plotino e o Deus de Leslie, como a forma última do Bem.
Mas por que seria o conceito tradicional de Deus tão impalatável? A crítica de Leslie neste aspecto é decepcionante, de uma fraqueza surpreendente. [24] A partir da questão leibniziana: “por que existe algo, em vez de nada?”, Leslie rejeita a resposta de Deus concebido como um ser ou factualmente ou logicamente necessário. Pois, se Deus é apenas factualmente necessário, Ele existe do ponto de vista lógico contingentemente, conquanto eternamente, e não se oferece nenhuma razão para Sua existência contingente. Por outro lado, não se pode mostrar que Deus existe necessariamente no sentido lógico, pois, quando o argumento ontológico afirma: “é possível que Deus exista”, esta possibilidade é somente epistêmica e, consequentemente, não mostra que a existência de Deus é logicamente possível.
Esta objeção, porém, parece confusa. Se Deus é puramente um ser factualmente necessário, existem mundos possíveis em que Ele existe, sim. Então, é logicamente impossível que ele exista em todos os mundos possíveis, ou seja, é logicamente necessário que Ele exista contingentemente. Mas daí, supondo que Deus seja a conclusão explanatória, não faz nenhum sentido buscar uma razão para Sua existência. Exigir uma razão para Sua existência é requerer um ser logicamente necessário que explique o fato de que Deus existe. Por esta hipótese, contudo, é logicamente impossível que haja um ser desses, porque, se ele fosse possível, existiria em todos os mundos possíveis, inclusive este, e, assim, Deus não seria a conclusão explanatória. Portanto, se Deus é um ser puramente factualmente necessário, é logicamente impossível que haja uma razão para Sua existência. Só é preciso acrescentar que seria equivocado indiciar uma posição por não prover o que é logicamente impossível.
Por outro lado, por que manter que Deus é puramente factualmente necessário? O princípio leibniziano de razão suficiente talvez nos leve a rejeitar o conceito de Deus como um ser puramente factualmente necessário, sustentando, pelo contrário, que ele é logicamente necessário. A falha do argumento ontológico enquanto parte da teologia natural é irrelevante à coerência deste conceito de Deus. Leslie aponta corretamente que, quando o argumento ontológico afirma que a proposição “um ser maximamente grande existe” (onde grandeza máxima subentende ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito em todos os mundos possíveis) é possível, existe uma ambiguidade entre “epistemicamente possível” e “logicamente possível”. Dizer que uma proposição dessas é epistemicamente possível significa apenas dizer que, por tudo que sabemos, ela é verdadeira. Entendida assim, faz sentido dizer: “possivelmente um ser maximamente grande existe e possivelmente Ele não existe”. Este sentido é insuficiente para os objetivos do argumento ontológico. Se, porém, estamos discutindo possibilidade lógica, dizer “um ser maximamente grande existe” é possível implica que Ele existe. Pois, se Ele existe em qualquer mundo possível, por definição Ele existe em todos. Assim, se esta proposição é possivelmente verdadeira no sentido lógico, ela é necessariamente verdadeira. Pois bem, concordo com Leslie que o argumento ontológico parece ser falho, pois tudo que intuímos é que um ser maximamente grande é epistemicamente possível, mas não podemos dizer a priori se Sua existência é logicamente possível. Mas em que sentido isto é sequer relevante para a questão em jogo? A coerência da necessidade lógica da existência de Deus não depende do sucesso do argumento ontológico ou de nossas intuições. É possível que o argumento ontológico não consiga provar a existência de Deus; não obstante, por tudo que sabemos, a existência de Deus é logicamente necessária. Filósofos como Plantinga, Robert Adams e William Rowe, sem nenhuma dependência do argumento ontológico, defenderam a coerência de Deus como ser logicamente necessário, [25] e Leslie nada diz para impugnar esta noção. Lançando mão da pergunta leibniziana como seu ponto de partida, Leslie deveria concluir a favor da existência de um ser que é tal por natureza que, se ele existe em qualquer mundo possível, existe em todos; este ser deve existir neste mundo para explicar por que algo existe, em vez de nada e, portanto, em todos os mundos, evitando assim a necessidade de uma explicação para sua existência. [26] Desta maneira, a tão legítima exigência de Leslie por uma razão para a existência de algo, em vez de nada, produziria uma resposta para a existência do universo sem requerer uma para a existência de Deus, e isto sem examinar o argumento ontológico.
Quanto ao conceito alternativo de Deus por parte de Leslie, acho que sua falta de força explanatória parece terrivelmente clara. Como é que pode haver projeto sem a provisão de uma mente inteligente? Agentes pessoais, e não princípios impessoais, projetam coisas. Se alguém diz que o Deus tradicional é uma espécie de demiurgo pessoal que projetou o mundo, como é que ele pode vir a ser por meio de um princípio abstrato? Objetos abstratos como números, proposições e propriedades não têm nenhuma localização espaço-temporal e não mantêm nenhuma relação causal com objetos concretos. Como, então, o objeto abstrato postulado por Leslie causa a existência de um objeto concreto como Deus?
De qualquer modo, não quero depreciar a ideia de Leslie de que o valor talvez ofereça uma chave para desenvolver a metafísica. Creio, porém, que esta ideia pode ser (e já é) apropriada por filósofos teístas tradicionais. Penso aqui em William Sorely, cujas preleções Gifford de 1918, Moral Values and the Idea of God [Valores morais e a ideia de Deus], talvez se tratem da melhor defesa do argumento moral para a existência de Deus. A partir da desunião de existência e valor, Sorely observa que estas parecem disjuntas porque não se pode deduzir “dever” de “ser”. Sorely, no entanto, acredita que este procedimento está errado e precisa ser invertido: ele crê que “dever” é o guia para o que é, ou seja, que ética é fundamental à metafísica. Sorely prossegue e argumenta com base em nossa apreensão de valor moral objetivo que, para que o ideal moral seja válido, ele deve estar ontologicamente ancorado em um existente pessoal e eterno, isto é, Deus, que é o fundamento tanto da ordem natural quanto da moral; ao argumentar assim, ele rejeita (algo que se aproxima da perspectiva de Leslie) o pluralismo espiritual, que postula valores independentes de pessoas. Nos escritos de Leslie, não detectei nenhuma familiaridade com a obra de Sorely, e é minha sincera esperança que ele encontre em Sorely uma relação de parentesco que redirecione seu pensamento para que adote o teísmo tradicional, enquanto retém suas ideias sobre a importância do valor para a existência.
Creio que fica claro, em consequência destes artigos, que o teísmo filosófico está firme e forte hoje em dia — de fato, quando os dias sombrios do movimento da “morte de Deus” na década de 1960 vêm à memória, não é incorreto falar de uma verdadeira ressurreição do teísmo. As seleções neste volume mostram que epistemologia especificamente religiosa é filosoficamente atualizada e que se soprou nova vida nos argumentos cosmológico e teleológico também. Seria possível dizer o mesmo dos argumentos ontológico e moral, embora não apareçam neste volume. Ainda que os autores que colaboram com este volume se tratem de alguns dos mais capazes defensores do teísmo, o notável é que existe um grande número de outros não incluídos aqui, muitos dos quais são igualmente ou até mais talentosos e muitos dos quais são jovens e promissores filósofos, que defendem a cosmovisão teísta. É uma época empolgante para fazer filosofia da religião.
-
[1]
"Modernizing the Case for God", Time, 07 de abril de 1980, pp. 65-6.
"Modernizing the Case for God", Time, 07 de abril de 1980, pp. 65-6.
-
[2]
Alvin Plantinga, God and Other Minds (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1967).
Alvin Plantinga, God and Other Minds (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1967).
-
[3]
James Tomberlin, "Is Belief in God Justified?", Journal of Philosophy 67 (1970): 31-8.
James Tomberlin, "Is Belief in God Justified?", Journal of Philosophy 67 (1970): 31-8.
-
[4]
Alvin Plantinga, "The Reformed Objection to Natural Theology", Proceedings of the Catholic Philosophical Association 15 (1970): 49-62; cf. Alvin Plantinga, "Is Belief in God Rational?", em Rationality and Religious Belief, ed. C. F. Delaney (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1979), pp.7-27.
Alvin Plantinga, "The Reformed Objection to Natural Theology", Proceedings of the Catholic Philosophical Association 15 (1970): 49-62; cf. Alvin Plantinga, "Is Belief in God Rational?", em Rationality and Religious Belief, ed. C. F. Delaney (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1979), pp.7-27.
-
[5]
Plantinga, "Reason and Belief in God", em Faith and Rationality, ed. Alvin Plantinga e Nicholas Wolterstorff (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1983), p. 72.
Plantinga, "Reason and Belief in God", em Faith and Rationality, ed. Alvin Plantinga e Nicholas Wolterstorff (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1983), p. 72.
-
[6]
Ver, por exemplo, Alvin Plantinga, "Justification", artigo inédito apresentado em diversos congressos.
Ver, por exemplo, Alvin Plantinga, "Justification", artigo inédito apresentado em diversos congressos.
-
[7]
Alvin Plantinga, "Self-Profile", em Alvin Plantinga, ed. James E. Tomberlin e Peter van Inwagen, Profiles 5 (Dordrecht: D. Reidel, 1985), p.64.
Alvin Plantinga, "Self-Profile", em Alvin Plantinga, ed. James E. Tomberlin e Peter van Inwagen, Profiles 5 (Dordrecht: D. Reidel, 1985), p.64.
-
[8]
Quaisquer dúvidas persistentes de que Plantinga seja um fideísta devem ser postas por terra graças a sua palestra "Two Dozen (or so) Theistic Arguments", 33º. congresso anual de filosofia, Faculdade Wheaton, 23 a 25 de outubro de 1986.
Quaisquer dúvidas persistentes de que Plantinga seja um fideísta devem ser postas por terra graças a sua palestra "Two Dozen (or so) Theistic Arguments", 33º. congresso anual de filosofia, Faculdade Wheaton, 23 a 25 de outubro de 1986.
-
[9]
Plantinga, "Reason and Belief", p. 83.
Plantinga, "Reason and Belief", p. 83.
-
[10]
Ibid., p. 84. É digno de nota que o jovem que crê no teísmo não está em melhor condição epistêmica do que o jovem que crê na Grande Abóbora ou no Papai Noel. Nestes casos, a crença está fundamentada no testemunho dos pais do jovem. De fato, a criança que acredita em Papai Noel está em situação melhor do que o teísta adolescente, pois aquela tem todos os tipos de confirmação empírica de sua crença. Assim, existem circunstâncias em que crenças estranhas podem ser apropriadamente básicas. Da perspectiva de Plantinga, o rapaz teísta, no entanto, goza da vantagem de que, à medida que amadurece intelectualmente, sua crença em Deus possa ser sustentada e reforçada ao estar no tipo de circunstâncias que garantem racionalmente sua crença na existência de Deus. Na realidade, circunstâncias podem fornecer-lhe justificação prima facie, de modo que, na ausência de condições contraditórias, ele tem conhecimento de que Deus existe (Ibid., pp. 86-7).
Ibid., p. 84. É digno de nota que o jovem que crê no teísmo não está em melhor condição epistêmica do que o jovem que crê na Grande Abóbora ou no Papai Noel. Nestes casos, a crença está fundamentada no testemunho dos pais do jovem. De fato, a criança que acredita em Papai Noel está em situação melhor do que o teísta adolescente, pois aquela tem todos os tipos de confirmação empírica de sua crença. Assim, existem circunstâncias em que crenças estranhas podem ser apropriadamente básicas. Da perspectiva de Plantinga, o rapaz teísta, no entanto, goza da vantagem de que, à medida que amadurece intelectualmente, sua crença em Deus possa ser sustentada e reforçada ao estar no tipo de circunstâncias que garantem racionalmente sua crença na existência de Deus. Na realidade, circunstâncias podem fornecer-lhe justificação prima facie, de modo que, na ausência de condições contraditórias, ele tem conhecimento de que Deus existe (Ibid., pp. 86-7).
-
[11]
Ibid., p. 84.
Ibid., p. 84.
-
[12]
Ibid.
Ibid.
-
[13]
Ibid., pp. 84-5.
Ibid., pp. 84-5.
-
[14]
Plantinga, "Self-Profile", p. 59.
Plantinga, "Self-Profile", p. 59.
-
[15]
Ibid., p. 55.
Ibid., p. 55.
-
[16]
Philip Quinn, "In Search of the Foundations of Theism", Faith and Philosophy 2(1985): 481.
Philip Quinn, "In Search of the Foundations of Theism", Faith and Philosophy 2(1985): 481.
-
[17]
Richard Swinburne, The Coherence of Theism (Oxford: Clarendon Press, 1977); idem, The Existence of God (Oxford: Clarendon Press, 1979); idem, Faith and Reason (Oxford: Clarendon Press, 1981).
Richard Swinburne, The Coherence of Theism (Oxford: Clarendon Press, 1977); idem, The Existence of God (Oxford: Clarendon Press, 1979); idem, Faith and Reason (Oxford: Clarendon Press, 1981).
-
[18]
Ver Robert Prevost, "Swinburne, Mackie, and Bayes's Theorem", International Journal for Philosophy of Religion 17 (1985): 175-84; Robert Prevost, "Theism as an Explanatory Hypothesis: Swinburne on the Existence of God" (tese de doutorado, Universidade de Oxford, 1986).
Ver Robert Prevost, "Swinburne, Mackie, and Bayes's Theorem", International Journal for Philosophy of Religion 17 (1985): 175-84; Robert Prevost, "Theism as an Explanatory Hypothesis: Swinburne on the Existence of God" (tese de doutorado, Universidade de Oxford, 1986).
-
[19]
Ver, por exemplo, Alvin Plantinga, "Is Theism Really A Miracle?", Faith and Philosophy 3 (1986): 109-34. É notável que a crítica de Mackie a milagres seja de superficialidade chocante. Comparar com Stephen S. Bilynskyj, "God, Nature, and the Concept of Miracle" (tese de doutorado, Universidade de Notre Dame, 1982).
Ver, por exemplo, Alvin Plantinga, "Is Theism Really A Miracle?", Faith and Philosophy 3 (1986): 109-34. É notável que a crítica de Mackie a milagres seja de superficialidade chocante. Comparar com Stephen S. Bilynskyj, "God, Nature, and the Concept of Miracle" (tese de doutorado, Universidade de Notre Dame, 1982).
-
[20]
Ver John Leslie, "God and Scientific Verifiability", Philosophy 53 (1978): 71-9; John Leslie, "Cosmology, Probability, and the Need to Explain Life", in Scientific Explanation and Understanding, CPS Publications in Philosophy of Science (Lanham, Maryland: University Press of America, 1983), pp. 53-82.
Ver John Leslie, "God and Scientific Verifiability", Philosophy 53 (1978): 71-9; John Leslie, "Cosmology, Probability, and the Need to Explain Life", in Scientific Explanation and Understanding, CPS Publications in Philosophy of Science (Lanham, Maryland: University Press of America, 1983), pp. 53-82.
-
[21]
John Leslie, "Modern Cosmology and the Creation of Life", em Evolution and Creation, ed. E. McMullin, University of Notre Dame Studies in Philosophy of Religion (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1985), p. 105.
John Leslie, "Modern Cosmology and the Creation of Life", em Evolution and Creation, ed. E. McMullin, University of Notre Dame Studies in Philosophy of Religion (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1985), p. 105.
-
[22]
See John Leslie, "Anthropic Principle, World Ensemble, Design", American Philosophical Quarterly 19 (1982): 141-51; John Leslie, "Observership in Cosmology: the Anthropic Principle", Mind 92 (1983): 573-9; John Leslie, "Probabilistic Phase Transitions and the Anthropic Principle", em Origin and Early History of the Universe (Liège: Université de Liège, no prelo).
See John Leslie, "Anthropic Principle, World Ensemble, Design", American Philosophical Quarterly 19 (1982): 141-51; John Leslie, "Observership in Cosmology: the Anthropic Principle", Mind 92 (1983): 573-9; John Leslie, "Probabilistic Phase Transitions and the Anthropic Principle", em Origin and Early History of the Universe (Liège: Université de Liège, no prelo).
-
[23]
Leslie, "Observership in Cosmology", p. 575.
Leslie, "Observership in Cosmology", p. 575.
-
[24]
Ver John Leslie, "The World's Necessary Existence", International Journal for Philosophy of Religion 11 (1980): 207-24.
Ver John Leslie, "The World's Necessary Existence", International Journal for Philosophy of Religion 11 (1980): 207-24.
-
[25]
Alvin Plantinga, The Nature of Necessity (Oxford: Clarendon Press, 1974), pp. 197-221; Robert Adams, "Has It Been Proved That All Real Existence is Contingent?", American Philosophical Quarterly 8 (1971): 284-91; William L. Rowe, The Cosmological Argument (Princeton: Princeton University Press, 1975), cap. 4.
Alvin Plantinga, The Nature of Necessity (Oxford: Clarendon Press, 1974), pp. 197-221; Robert Adams, "Has It Been Proved That All Real Existence is Contingent?", American Philosophical Quarterly 8 (1971): 284-91; William L. Rowe, The Cosmological Argument (Princeton: Princeton University Press, 1975), cap. 4.
-
[26]
Ver os oportunos comentários de Thomas V. Morris, em resenha de The Quest for Eternity, de J. C. A. Gaskin, Faith and Philosophy 3 (1986): 334.
Ver os oportunos comentários de Thomas V. Morris, em resenha de The Quest for Eternity, de J. C. A. Gaskin, Faith and Philosophy 3 (1986): 334.

