
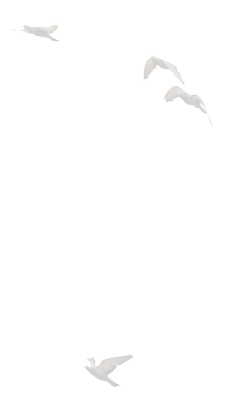

Podemos ser bons, se Deus não existir?
Summary
Why God is the only sound foundation for morality. Originalmente publicado como: “Can We Be Good without God?”. Texto disponível na íntegra em: http://www.reasonablefaith.org/can-we-be-good-without-god.
Podemos ser bons, se Deus não existir? À primeira vista, a reposta a essa pergunta pode parecer tão óbvia que só o fato de fazê-la causa indignação. Pois, embora nós, cristãos teístas, tenhamos em Deus, sem nenhuma dúvida, uma fonte de força e de determinação moral que nos capacita a viver vidas melhores do que viveríamos sem ele, soaria arrogante e ignorante afirmar que os que não partilham de uma fé em Deus nem sempre têm uma vida moral saudável — na verdade, para nosso embaraço, vidas que às vezes nos envergonham do modo como vivemos.
Mas espere aí! Seria mesmo arrogante e ignorante afirmar que as pessoas não podem ser boas se não acreditarem em Deus. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi: podemos ser bons, se Deus não existir? Quando a fazemos, levantamos de maneira provocativa a questão metaética da objetividade dos valores morais. Existem valores que consideramos preciosos e que guiam a nossa vida por meras convenções sociais, como dirigir do lado esquerdo e não do lado direito da rua, ou por meras expressões de preferência pessoal, como gostar ou não do sabor de certo tipo de comida? Ou será que essas coisas são válidas a despeito da nossa percepção delas, e, se o forem, qual o seu fundamento? Ademais, se a moralidade for somente uma convenção humana, por que deveríamos nos comportar moralmente, sobretudo quando isso conflita com nosso próprio interesse? Ou, ainda, seríamos de algum modo responsáveis por nossas decisões e ações morais?
Hoje, quero demonstrar que, se Deus existe, a objetividade dos valores morais, dos deveres morais e da responsabilidade moral é garantida, e que, na ausência de Deus, ou seja, se Deus não existe, então, a moralidade não passa de uma convenção humana, quer dizer, é totalmente subjetiva e não obrigatória. Poderíamos proceder exatamente das mesmas maneiras que de fato procedemos, mas, com a ausência de Deus, tais procedimentos não seriam mais considerados como bons (ou maus), uma vez que, se Deus não existe, não existem valores morais objetivos. Logo, não podemos ser verdadeiramente bons, se Deus não existir. Por outro lado, se de fato acreditamos que valores e deveres morais são objetivos, isso proporciona fundamentos morais para acreditar na existência de Deus.
Considere-se, então, a hipótese de que Deus existe. Primeiro, se Deus existir, existem valores morais. Dizer que existem valores morais é afirmar que algo é certo ou errado, a despeito de alguém acreditar nisso ou não. É dizer, por exemplo, que o antissemitismo nazista era moralmente errado, mesmo que os nazistas realizadores do Holocausto achassem que era bom; e que o Holocausto ainda seria errado, mesmo que os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, conseguindo exterminar ou fazer lavagem cerebral em todos quantos discordassem deles.
Do ponto de vista teísta, os valores morais objetivos estão arraigados em Deus. A própria natureza santa e perfeitamente boa de Deus fornece o padrão absoluto pelo qual todas as ações e decisões são mensuradas. A natureza moral de Deus é o que Platão chamou de “Bem”. Ele é o cerne e a fonte do valor moral. Por natureza, ele é amoroso, generoso, justo, fiel, benigno, e assim por diante.
Além disso, a natureza moral de Deus se expressa com relação a nós na forma de mandamentos divinos, que constituem nossos deveres ou obrigações morais. Longe de serem arbitrários, esses mandamentos fluem necessariamente da sua natureza moral. Na tradição judaico-cristã, todo o dever moral do homem pode ser resumido em dois grandes mandamentos: o primeiro é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo teu entendimento; e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fundamentados nesse alicerce, podemos afirmar a bondade e a retidão objetivas do amor, da generosidade, do autossacrifício, da equidade, e condenar como objetivamente mal e errado o egoísmo, o ódio, a violência, a discriminação e a opressão.
Por fim, no que tange à hipótese teísta, Deus considera todas as pessoas como moralmente responsáveis pelos seus atos. O mal e o erro serão punidos; a retidão será reconhecida. No futuro, o bem triunfará sobre o mal e veremos por fim que vivemos de fato num universo moral. Malgrado as iniquidades desta vida, no final, os pratos da balança da justiça de Deus estarão equilibrados. Assim, as escolhas morais que fazemos nesta vida estão impregnadas de significado eterno. Podemos, com consistência, fazer escolhas morais que contrariam nosso interesse pessoal e, até, levar a cabo atitudes de profundo autossacrifício, sabendo que essas decisões não são gestos vazios nem, em última análise, desprovidos de sentido. Antes, nossa vida moral tem sentido supremo. Portanto, considero que seja evidente que o teísmo fornece um fundamento seguro para a moralidade.
Contraste-se o que foi dito com a hipótese ateísta. Primeiro, se o ateísmo for verdadeiro, não existem valores morais objetivos. Se Deus não existe, então, qual seria o fundamento dos valores morais? Mais particularmente, qual é a base para o valor dos seres humanos? Se Deus não existe, fica difícil, nesse caso, ver alguma razão para considerar que os seres humanos sejam especiais ou que a moralidade deles seja objetivamente verdadeira. Além disso, por que razão acharíamos que temos obrigações morais para fazer qualquer coisa? Quem ou o quê nos imporia algum dever moral? Michael Ruse, filósofo da ciência, escreve:
A posição dos evolucionistas modernos [...] é que os humanos têm consciência de moralidade [...] pois esse tipo de consciência tem importância biológica. A moralidade não é menos uma adaptação biológica do que mãos, pés e dentes [...] Considerada como um conjunto de alegações racionalmente justificáveis sobre coisas objetivas, a ética é ilusória. Acho louvável que, ao dizerem “Ama o teu próximo como a ti mesmo”, as pessoas achem que estão se referindo acima e além de si mesmas. [...] No entanto, [...] tal referência é, de fato, desprovida de fundamento. A moralidade é somente um auxílio à sobrevivência e à reprodução [...] e qualquer significado mais profundo é ilusório [...] [1]
Como resultado de pressões sociobiológicas, entre o Homo sapiens evoluiu um tipo de “moralidade gregária” que funciona bem na perpetuação de nossas espécies na luta pela sobrevivência. Mas não parece realmente haver alguma coisa a respeito do Homo sapiens que torne essa moralidade objetivamente verdadeira.
Ademais, da perspectiva ateia não existe nenhum legislador divino. Então, qual é a fonte da obrigação moral? Richard Taylor, eminente especialista em ética, escreve:
A era moderna, ao repudiar em maior ou menor medida a ideia de um legislador divino, tem, no entanto, procurado preservar as ideias do que é moralmente certo e errado, sem perceber que, ao descartar Deus, as pessoas aboliram, da mesma maneira, as condições de significado para o que é moralmente certo ou errado. Assim, até mesmo indivíduos letrados declaram que certas coisas como guerra, aborto ou violação de certos direitos humanos são “moralmente erradas” e imaginam terem dito algo verdadeiro e cheio de sentido. Entretanto, é dispensável dizer a pessoas instruídas que questões desse tipo jamais foram respondidas fora do âmbito da religião. [2]
Ele conclui:
Contemporaneamente, os autores que escrevem sobre ética, que discursam descuidadamente sobre o que é moralmente certo ou errado e sobre a obrigação moral sem nenhuma referência à religião, na verdade só estão tecendo teias intelectuais no ar rarefeito; isso equivale a dizer que o discurso deles não tem sentido. [3]
Ora, é importante que tenhamos clareza em entender a questão posta diante de nós. A questão não é: temos de crer em Deus para viver vidas morais? Não há razão para pensar que tanto ateus como teístas não possam viver de acordo com o que caracterizamos normalmente como vidas boas e decentes. Semelhantemente, a questão não é: podemos formular um sistema de ética sem referência a Deus? Se o não-teísta assegura que os seres humanos têm de fato valor objetivo, não há por que pensar que ele não seja capaz de produzir um sistema de ética com o qual a maioria dos teístas também concordaria. Ou, ainda, a questão não é: podemos reconhecer a existência de valores morais objetivos sem referência a Deus? A defesa típica dos teístas será que não é necessário crer em Deus para, digamos, reconhecer que devemos amar nossos filhos. Antes, como explica o filósofo humanista Paul Kurtz: “A questão central quanto a princípios morais e éticos tem tudo a ver com esse fundamento ontológico. Se tais princípios não derivam de Deus nem estão ancorados em nenhum fundamento transcendente, são eles puramente efêmeros?”. [4]
Se não existe Deus, parece, então, que se eliminou qualquer razão que leve a considerar como objetivamente verdadeiro que a moralidade gregária evoluiu por meio do Homo sapiens. Afinal de contas, o que há de tão especial nos seres humanos? Eles não passam de subprodutos acidentais da natureza — que evoluiu até relativamente pouco tempo numa partícula infinitesimal de poeira perdida em algum lugar num universo hostil e irracional — condenados a perecerem individual e coletivamente num intervalo de tempo relativamente curto. Certo tipo de atividade, digamos, como o incesto, pode não ser biológica nem socialmente vantajosa e, portanto, no curso da evolução humana foi convertida em tabu. Mas, da perspectiva ateísta, não há nada realmente errado quanto ao cometimento do incesto. Se, conforme declara Kurtz, “os princípios morais que governam nosso comportamento estão enraizados no hábito e no costume, no sentimento e na moda”, [5] então, o inconformado que prefere debochar da moralidade gregária não está fazendo nada mais grave do que andar fora da moda.
A falta de valor objetivo dos seres humanos segundo a cosmovisão naturalista é sublinhada por duas implicações dessa visão de mundo: materialismo e determinismo. Os naturalistas são tipicamente adeptos do materialismo ou do fisicalismo e consideram o homem como organismo puramente animal. Mas, se o homem não tiver nenhum aspecto imaterial relacionado ao seu ser (chame-o de alma ou mente ou do que quiser), então, ele não será qualitativamente diferente de nenhuma outra espécie animal. Para o homem, considerar a moralidade humana como objetiva é cair na armadilha do especismo. Para a antropologia materialista, não há razão para considerar que os seres humanos sejam objetivamente mais valiosos do que ratos. Em segundo lugar, se mente e cérebro são a mesmíssima coisa, tudo quanto pensamos e fazemos é determinado pela percepção dos nossos cinco sentidos e pela nossa estrutura genética. Inexiste o agente pessoal que tudo decide livremente. Sem liberdade, nenhuma de nossas escolhas é moralmente importante. São como os gestos espasmódicos dos membros de uma marionete, controlada pelos cordões da percepção sensorial e da constituição física. E que valor moral tem uma marionete ou seus movimentos?
Assim, se o naturalismo for verdadeiro, torna-se impossível condenar a guerra, a opressão ou o crime como malignos. Nem será possível enaltecer a fraternidade, a igualdade ou o amor como benignos. Não importa quais valores se escolham, pois não há certo nem errado; bem e mal não existem. Isso significa que uma atrocidade como a do Holocausto, na realidade, seria moralmente indiferente. Pode ser que você o ache errado, mas a sua opinião não seria mais válida do que a do criminoso de guerra nazista, que o considerava bom. Em seu livro Morality after Auschwitz [A moralidade após Auschwitz], Peter Haas questiona como seria possível toda uma sociedade participar voluntariamente de um programa de tortura em massa e de genocídio patrocinado pelo Estado por mais de uma década, sem qualquer oposição séria. Ele defende que,
longe de desdenharem da ética, os perpetradores agiram em total conformidade com uma ética que sustentava que, por mais difícil e desagradável que a tarefa pudesse ser, a exterminação maciça de judeus e ciganos era plenamente justificável [...] o Holocausto, como esforço sustentado, só foi possível porque vigorava uma nova ética que não definia como erradas a prisão e deportação de judeus e, de fato, considerava tais ações como eticamente toleráveis e absolutamente boas. [6]
Além disso, aponta Haas, em razão de sua coerência e consistência interna, a ética nazista não poderia ser desacreditada internamente. Essa crítica só poderia ser lançada a partir de uma posição privilegiada transcendente, acima dos costumes morais socioculturais relativistas. Porém, na ausência de Deus, falta exatamente essa perspectiva privilegiada. Um rabino aprisionado em Auschwitz disse que era como se todos os Dez Mandamentos tivessem sido invertidos: matarás, mentirás, furtarás. A humanidade jamais tinha visto esse inferno. E, todavia, em sentido legítimo, se o naturalismo for verdadeiro, o nosso mundo é Auschwitz. Não existe mal nem bem, nem certo ou errado. Não existem valores morais objetivos.
Ademais, se o ateísmo for verdadeiro, ninguém responde moralmente por suas atitudes. Ainda que, sob o naturalismo, houvesse valores e deveres morais, eles seriam irrelevantes, pois não há responsabilidade moral. Se a vida termina na sepultura, não faz diferença viver como um Stálin ou como um santo. Como escreveu corretamente o autor russo Fiódor Dostoiévski: “Se não há imortalidade, tudo é permitido”. [7]
Os torturadores estatais das prisões soviéticas entenderam isso bem demais. Richard Wurmbrand relata:
É difícil de acreditar na crueldade do ateísmo, no qual o homem não tem fé na recompensa do bem nem no castigo do mal. Não há razão para ser humano. Não há limites para as profundezas do mal que há no homem. Os torturadores comunistas diziam sempre: “Não há Deus, não há vida futura, não há castigo para o mal. Podemos fazer o que quisermos”. Certa vez ouvi um torturador dizer: “Dou graças a Deus, em quem não creio, por ter vivido até agora, quando posso expressar toda a maldade do meu coração”. Ele a expressava com brutalidade e tortura inacreditáveis, infligidas aos prisioneiros. [8]
Dado o caráter definitivo da morte, não importa realmente o modo como se vive. Portanto, o que dizer a alguém que chegou à conclusão de que podemos também viver conforme nos agradar, por puro interesse próprio? É o que representa a imagem um tanto sinistra de um ateu ético como Kai Nielsen, da Universidade de Calgary. Eis o que ele escreveu:
Não conseguimos mostrar que a razão demanda o ponto de vista moral, nem que todas as pessoas realmente racionais não deveriam ser egoístas individuais nem amoralistas clássicos. A razão não manda aqui. A imagem que lhes pintei não é nada agradável. Refletir acerca dela me deprime [...] A razão pura e prática, mesmo com um bom conhecimento dos fatos, não o levará à moralidade. [9]
Talvez se diga que está em nosso maior benefício pessoal adotar um estilo de vida moralizado. Obviamente, isso nem sempre é verdade. Todos conhecemos situações em que o interesse pessoal se choca de cara com a moralidade. Ademais, quando se é tão poderoso como um Ferdinando Marcos, um Papa Doc Duvalier ou mesmo um Donald Trump, pode-se muito bem ignorar os ditames da consciência e viver seguramente na autoindulgência. O historiador Stewart C. Easton resume bem isso quando escreve: “Não existe razão objetiva para que o homem aja moralmente, a não ser que a moralidade ‘renda dividendos’ na sua vida social ou o faça ‘sentir-se bem’. Não há nenhuma razão objetiva para que o homem deva fazer algo, a não ser pelo prazer que isso lhe proporciona”. [10]
Atitudes de autossacrifício tornam-se particularmente disparatadas na perspectiva naturalista. Por que você deveria sacrificar seu interesse pessoal, e especialmente a sua vida, por causa de outra pessoa? Do ponto de vista naturalista, não existe nenhuma boa razão para adotar um curso de ação que leve à negação de si mesmo. Considerado pelo ângulo sociobiológico, tal comportamento altruísta é meramente resultado do condicionamento evolucionário que ajuda a perpetuar a espécie. A mãe que corre para dentro da casa em chamas para salvar os filhos, ou o soldado que lança o corpo sobre a granada para salvar seus companheiros, não faz nada mais importante nem digno de louvor, moralmente falando, do que uma formiga soldado que se sacrifica em prol do formigueiro. O senso comum determina que, se pudermos, devemos resistir às pressões sociobiológicas para cometer ações autodestrutivas, procurando, então, agir em interesse próprio. O filósofo da religião John Hick convida-nos a imaginar uma formiga subitamente dotada das percepções da sociobiologia e da liberdade de tomar decisões pessoais. Ele escreve:
Vamos supor que ela seja convocada para imolar a si mesma em prol do formigueiro. Ela sente a poderosa pressão do instinto empurrando-a para essa autodestruição. No entanto, ela se interroga, por que razão deveria voluntariamente [...] levar adiante o programa suicida para o qual o instinto a impulsiona? Por que deveria considerar a existência futura de milhões e milhões de outras formigas como mais importante para ela do que a própria existência? [...] Uma vez que tudo que ela é e tem, ou que ainda possa ter, é a sua própria presente existência, com certeza, visto que está livre do domínio da força cega do instinto, ela optará pela vida — a sua própria vida. [11]
Então, por que faríamos escolha diferente? A vida é breve demais para arriscá-la por qualquer outro motivo que não o do puro interesse pessoal. O sacrifício por outra pessoa não passa de estupidez. Assim, a falta de responsabilidade moral decorrente da filosofia do naturalismo converte em abstração vazia a ética da compaixão e do autossacrifício. R. Z. Friedman, filósofo da Universidade de Toronto, conclui: “Sem a religião, não é possível estabelecer a coerência de uma ética da compaixão. O princípio de respeito pelas pessoas e o princípio da sobrevivência dos mais aptos são mutuamente exclusivos”. [12]
Chegamos, portanto, a perspectivas radicalmente diferentes acerca da moralidade, dependentes da existência ou inexistência de Deus. Se Deus existir, há um fundamento sólido para a moralidade. Se Deus não existir, então, assim como via Nietzsche, estamos, em última análise, atracados no niilismo.
A escolha entre as duas não precisa ser feita arbitrariamente. Pelo contrário, as próprias considerações que discutimos podem constituir a justificação moral para a existência de Deus.
Por exemplo, se considerarmos que existem valores morais, logo seremos levados logicamente à conclusão de que Deus existe. E algo poderia ser mais óbvio do que valores morais objetivos realmente existirem? Não há mais razão para negar a realidade objetiva de valores morais do que para negar a realidade objetiva do mundo físico. O arrazoado de Ruse é, na pior das hipóteses, um exemplo de falácia genética num livro escolar, e, na melhor, só prova que a nossa percepção subjetiva de valores morais evoluiu. Contudo, se os valores morais são descobertos gradualmente, e não inventados, essa apreensão gradual e falível do universo moral mina a realidade objetiva desse âmbito, tanto quanto a nossa percepção gradual e falível do mundo físico mina a objetividade desse outro âmbito. O fato é que realmente apreendemos valores morais objetivos, e todos sabemos disso. Ações como estupro, tortura, abuso infantil e brutalidade não são apenas comportamento social inaceitável: são abominações morais. Como o próprio Ruse declara: “Quem afirma que é socialmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto quem diz que 2+2=5”. [13] Pela mesma razão, amor, generosidade, equidade e autossacrifício são realmente bons. As pessoas que não conseguem ver isso não passam de moralmente incapacitadas, e não há razão para permitir que a sua visão deficiente ponha em dúvida aquilo que vemos com clareza. Portanto, a existência de valores morais objetivos serve para demonstrar a existência de Deus.
Ou consideremos a natureza da obrigação moral. Para nós, o que torna determinadas ações certas ou erradas? O que ou quem nos impõe deveres morais? Por que devemos fazer umas coisas e outras, não? Qual a origem desse “devemos”? Pensava-se, tradicionalmente, que as nossas obrigações morais nos foram impostas pelos mandamentos morais de Deus. Mas, se negamos a existência de Deus, fica difícil compreender o que seja dever moral, ou certo e errado, conforme explica Richard Taylor:
Um dever é algo que é devido [...] Mas, às vezes, pode ser devido a uma ou umas pessoas. Não é possível existir algo como um dever isolado. [...] A ideia de obrigação política ou jurídica é clara o bastante [...] Semelhantemente, a ideia de uma obrigação mais elevada do que essas, referida como obrigação moral, é bastante clara, desde que haja referência a algum legislador mais elevado [...] em consideração do que os do Estado. Em outras palavras, é possível [...] entender que as nossas obrigações morais são impostas por Deus. Isso torna claro o sentido da reivindicação de que nossas obrigações morais são mais forçosas sobre nós do que as nossas obrigações políticas [...] Mas e se o legislador sobre-humano não for mais levado em consideração? O conceito de obrigação moral [...] ainda fará sentido? [...] sem a ideia de Deus, o conceito de obrigação moral [é] ininteligível. As palavras permanecem, mas o seu sentido se foi. [14]
Disso, infere-se que as obrigações morais e os conceitos de certo e errado necessitam da existência de Deus. Com certeza, temos mesmo tais obrigações. Em palestra recente no campus de uma universidade canadense, chamou-me atenção um cartaz distribuído pelo Centro de Informação & Ataque Sexual [Sexual Assault & Information Center], no qual se lia: “Ataque sexual: ninguém tem o direito de violentar crianças, homens ou mulheres”. A maioria de nós reconhece que essa declaração é evidentemente verdadeira. Mas é possível ao ateu não compreender o direito de alguém não ser violentado por outra pessoa. A melhor resposta acerca da fonte da obrigação moral é que a retidão ou a maldade moral consiste na concordância ou discordância com a vontade ou mandamentos de um Deus santo e amoroso.
Por último, consideremos o problema da responsabilidade moral. Temos aqui um argumento poderosamente prático para acreditar em Deus. Segundo William James, os argumentos práticos só podem ser usados quando os argumentos teóricos são insuficientes para decidir uma questão de importância urgente e pragmática. Mas parece óbvio que um argumento prático poderia também ser usado para amparar ou motivar a aceitação da conclusão de um argumento teórico consistente. Portanto, crer que Deus não existe e que por isso não há razão para a prestação de contas e responsabilidade moral seria literalmente bem des-moralizante, pois assim teríamos que acreditar que as nossas escolhas morais são totalmente insignificantes, uma vez que tanto o nosso destino como o do universo serão o mesmo, não importa o que fizermos. Com “des-moralizante”, quero dizer deterioração da motivação moral. É duro fazer a coisa certa, quando ela significa sacrificar o próprio interesse pessoal, e é duro também resistir à tentação de cometer o mal quando esse desejo é forte; a crença de que, no final das contas, não importa o que você escolha ou faça pode solapar a força moral de alguém, arruinando, portanto, a sua vida moral. Como destaca Robert Adams: “A consideração de que seja muito provável que a história do universo, na sua totalidade, não será boa, não importa o que se faça, parece tender a induzir a um senso cínico de futilidade da vida moral, solapando a determinação e o interesse pessoal nas considerações morais”. [15] Em comparação, não há nada tão provavelmente capaz de fortalecer a vida moral como acreditar que haverá prestação de contas pelas próprias ações e que tais escolhas fazem de fato a diferença em promover o bem. O teísmo é, portanto, uma crença moralmente vantajosa, e isso, na falta de qualquer argumento teórico que estabeleça que o ateísmo é verdade, fornece fundamentos práticos para crer em Deus, bem como motivação para aceitar a conclusão dos dois argumentos teóricos que acabei de apresentar acima.
Resumindo, parece que os fundamentos teológicos metaéticos são realmente indispensáveis à moralidade. Se Deus não existe, é plausível considerar que não existem valores morais objetivos, que não temos obrigações morais e que não há prestação de contas e responsabilidade morais para o modo como vivemos e agimos. O horror de um mundo moralmente neutro é óbvio. Se, por outro lado, sustentarmos, como parece racional fazê-lo, que valores e deveres objetivos morais existem de fato, temos fundamentos para acreditar na existência de Deus. Além disso, temos poderosas razões práticas para adotar o teísmo em vista dos efeitos moralmente estimulantes que a crença na responsabilidade moral produz. Não podemos, portanto, ser realmente bons, se Deus não existir; mas, se podemos ser bons em certa medida, logo se conclui que Deus existe.
-
[1]
Michael Ruse, “Evolutionary Theory and Christian Ethics”, in The Darwinian Paradigm (Londres: Routledge, 1989), pp. 262, 268-269.
Michael Ruse, “Evolutionary Theory and Christian Ethics”, in The Darwinian Paradigm (Londres: Routledge, 1989), pp. 262, 268-269.
-
[2]
Richard Taylor, Ethics, Faith, and Reason (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1985), pp. 2-3.
Richard Taylor, Ethics, Faith, and Reason (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1985), pp. 2-3.
-
[3]
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 7.
-
[4]
Paul Kurtz, Forbidden Fruit (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1988) p. 65.
Paul Kurtz, Forbidden Fruit (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1988) p. 65.
-
[5]
Ibid., p. 73.
Ibid., p. 73.
-
[6]
Comentário crítico de Peter Haas, Morality after Auschwitz: The Radical Challenge of the Nazi Ethic (Filadélfia: Fortress Press, 1988), por R. L. Rubenstein, Journal of the American Academy of Religion 60 (1992): 158.
Comentário crítico de Peter Haas, Morality after Auschwitz: The Radical Challenge of the Nazi Ethic (Filadélfia: Fortress Press, 1988), por R. L. Rubenstein, Journal of the American Academy of Religion 60 (1992): 158.
-
[7]
Fiódor Dostoiévski, The Brothers Karamazov, trad. C. Garnett (Nova Iorque: Signet Classics, 1957), livro II, cap. 6; livro V, cap. 4; livro XI, cap. 8 [publicado em português com o título Os irmãos Karamázov. São Paulo: Editora 34, 2008].
Fiódor Dostoiévski, The Brothers Karamazov, trad. C. Garnett (Nova Iorque: Signet Classics, 1957), livro II, cap. 6; livro V, cap. 4; livro XI, cap. 8 [publicado em português com o título Os irmãos Karamázov. São Paulo: Editora 34, 2008].
-
[8]
Richard Wurmbrand, Tortured for Christ (Londres: Hodder & Stoughton, 1967), p. 34 [publicado em português com o título Torturado por amor a Cristo. São Paulo: A. D. Santos, 1998].
Richard Wurmbrand, Tortured for Christ (Londres: Hodder & Stoughton, 1967), p. 34 [publicado em português com o título Torturado por amor a Cristo. São Paulo: A. D. Santos, 1998].
-
[9]
Kai Nielsen, “Why Should I Be Moral?”, American Philosophical Quarterly 21 (1984): 90.
Kai Nielsen, “Why Should I Be Moral?”, American Philosophical Quarterly 21 (1984): 90.
-
[10]
Stewart C. Easton, The Western Heritage, 2.ed. (Nova Iorque: Holt, Rinehart & Winston, 1966), p. 878.
Stewart C. Easton, The Western Heritage, 2.ed. (Nova Iorque: Holt, Rinehart & Winston, 1966), p. 878.
-
[11]
John Hick, Arguments for the Existence of God (Nova Iorque: Herder & Herder, 1971), p. 63.
John Hick, Arguments for the Existence of God (Nova Iorque: Herder & Herder, 1971), p. 63.
-
[12]
R. Z. Friedman, “Does the ‘Death of God’ Really Matter?”, International Philosophical Quarterly 23 (1983): 322.
R. Z. Friedman, “Does the ‘Death of God’ Really Matter?”, International Philosophical Quarterly 23 (1983): 322.
-
[13]
Michael Ruse, Darwinism Defended (Londres: Addison-Wesley, 1982), p. 275.
Michael Ruse, Darwinism Defended (Londres: Addison-Wesley, 1982), p. 275.
-
[14]
Taylor, Ethics, Faith, and Reason, pp. 83-84.
Taylor, Ethics, Faith, and Reason, pp. 83-84.
-
[15]
Robert Merrihew Adams, “Moral Arguments for Theistic Belief”, in Rationality and Religious Belief, org. C. F. Delaney (Notre Dame, Ind.: University of Notre dame Press, 1979), p. 127.
Robert Merrihew Adams, “Moral Arguments for Theistic Belief”, in Rationality and Religious Belief, org. C. F. Delaney (Notre Dame, Ind.: University of Notre dame Press, 1979), p. 127.

