
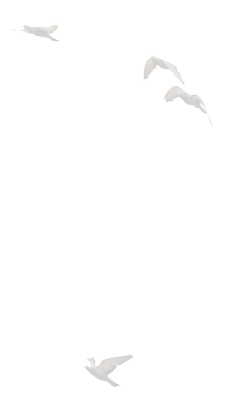

Críticas teístas do ateísmo
Summary
Uma descrição do ressurgimento do teísmo filosófico em nosso tempo, incluindo um breve levantamento de destacados argumentos antiteístas, tais como a presunção do ateísmo, a incoerência do teísmo e o problema do mal, além de uma defesa de argumentos teístas como o argumento da contingência, o argumento cosmológico, o argumento teleológico e o argumento moral.
Versão resumida em The Cambridge Companion to Atheism, pp. 69-85. Ed. M. Martin. Cambridge Companions to Philosophy. Cambridge University Press, 2007 (mais informações aqui).
Introdução
O último meio século testemunhou uma verdadeira revolução na filosofia anglo-americana. Em retrospectiva recente, o eminente filósofo de Princeton Paul Benacerraf recorda como era fazer filosofia em Princeton durante os anos de 1950 e 1960. O modo de pensar esmagadoramente dominante era o naturalismo científico. A metafísica havia sido vencida, expulsa da filosofia como uma leprosa imunda. Qualquer problema que não pudesse ser resolvido pela ciência era simplesmente desconsiderado como pseudoproblema. O verificacionismo reinou triunfante sobre a emergente ciência da filosofia. "Este novo iluminismo viria a deitar por terra os antigos pontos de vista e atitudes metafísicos, substituindo-os pelo novo modo de fazer filosofia”. [1]
O colapso do verificacionismo foi sem dúvida o evento filosófico mais importante do século XX. Sua morte significou o ressurgimento da metafísica, juntamente com outros problemas tradicionais da filosofia que o verificacionismo suprimira. Acompanhando esse ressurgimento, veio algo novo e completamente inesperado: o renascimento da filosofia cristã.
A feição da filosofia anglo-americana foi consequentemente transformada. O teísmo está em ascensão; o ateísmo está em declínio. [2] O ateísmo, embora talvez ainda seja o ponto de vista dominante na academia americana, é uma filosofia em retirada. Em artigo recente na revista secularista Philo, Quentin Smith lamenta o que ele chama de "a dessecularização da academia que se desenvolveu nos departamentos de filosofia desde o final dos anos de 1960". Ele se queixa assim:
Naturalistas passivamente observaram à medida que versões realistas do teísmo... começaram a varrer através da comunidade filosófica, até que hoje talvez um quarto ou um terço dos professores de filosofia seja teísta, com a maioria sendo cristãos ortodoxos... na filosofia, tornou-se, quase da noite para o dia, "academicamente respeitável" defender o teísmo, fazendo da filosofia um privilegiado campo de entrada para os teístas mais inteligentes e talentosos que entram na academia hoje. [3]
Smith conclui: "Deus não está 'morto' na academia; ele voltou à vida no fim da década de 1960 e agora está bem vivo em sua última fortaleza acadêmica, os departamentos de filosofia”. [4]
Como vanguardas de um novo paradigma filosófico, filósofos teístas têm lançado livremente várias críticas ao ateísmo. Em espaço tão pequeno como este artigo, é impossível fazer algo além de esboçar algumas delas e fornecer orientação para leituras mais aprofundadas. Estas críticas podem ser agrupadas em duas frentes básicas: (1) Não há argumentos convincentes a favor do ateísmo e (2) Existem argumentos convincentes a favor do teísmo.
Não há argumento convincente a favor do ateísmo
Presunção do ateísmo. Teístas se queixam que os argumentos habituais contra a existência de Deus não passam na inspeção filosófica. Uma das justificativas mais comumente proferidas do ateísmo é a chamada presunção do ateísmo. À primeira vista, esta é a afirmação de que, na ausência de provas da existência de Deus, devemos presumir que Deus não existe. Assim entendida, tal suposta presunção parece confundir o ateísmo com o agnosticismo. Quando se atenta mais de perto para como protagonistas da presunção de ateísmo utilizam o termo "ateu", no entanto, descobre-se que eles por vezes estão redefinindo a palavra para indicar apenas a ausência de crença em Deus. Tal redefinição banaliza a alegação da presunção do ateísmo, pois nesta definição o ateísmo deixa de ser uma um ponto de vista, e até mesmo bebês contam como ateus. Ainda seria necessário justificativa a fim de saber que Deus existe ou que Ele não existe.
Outros defensores da presunção do ateísmo utilizam a palavra da forma convencional, mas insistem que é precisamente a ausência de provas para o teísmo que justifica a sua afirmação de que Deus não existe. O problema com essa posição é captado muito bem pelo aforismo, tão caro aos cientistas forenses, de que "ausência de provas não é prova de ausência”. A ausência de provas é prova de ausência apenas nos casos em que, se a entidade postulada existisse, deveríamos esperar ter mais provas de sua existência do que o temos. No que diz respeito à existência de Deus, cabe ao ateu provar que, se Deus existisse, Ele forneceria mais provas de sua existência do que aquilo que temos. Este é um ônus de prova enormemente pesado para o ateu suportar, por duas razões: (1) Ao menos no teísmo cristão, a principal maneira como podemos vir a conhecer Deus não é mediante provas, mas mediante a obra interior do Espírito Santo, que é eficaz em levar pessoas a uma relação com Deus sem nenhuma necessidade de provas. [5] (2) No teísmo cristão, Deus preparou os milagres estupendos da criação do universo a partir do nada e da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para os quais existem boas provas científicas e históricas, sem contar todos os outros argumentos da teologia natural. [6] À luz disso, a presunção do ateísmo parece deveras presunçosa!
O debate entre filósofos contemporâneos, portanto, superou a simples presunção do ateísmo, transformando-se numa discussão sobre o chamado "ocultamento de Deus" — de fato, uma discussão sobre a probabilidade ou expectativa de que Deus, se Ele existisse, deixasse mais provas de Sua existência do que aquilo que temos. Insatisfeitos com as provas que temos, alguns ateus argumentam que Deus, se Ele existisse, teria impedido a incredulidade do mundo, fazendo a Sua existência perfeitamente aparente. Mas por que Deus deveria querer fazer uma coisa dessas? Na visão cristã, é na verdade uma questão de relativa indiferença para Deus se as pessoas acreditam que Ele existe ou não. Deus está interessado em construir uma relação de amor conosco, não apenas nos fazer crer que Ele existe. Não há nenhuma razão para pensar que, se Deus fizesse a Sua existência mais evidente, mais pessoas poderiam entrar em uma relação salvadora com Ele. Na verdade, nós não temos nenhuma maneira de saber se, num mundo de pessoas livres, em que a existência de Deus fosse tão óbvia quanto o que está bem diante de seus olhos, mais pessoas viriam a amá-Lo e conhecer a Sua salvação do que no mundo real. Pois então, a alegação de que, se Deus existisse, Ele faria a Sua existência mais evidente do que é, tem pouca ou nenhuma garantia, comprometendo, assim, a alegação de que a ausência de tal prova é a própria prova positiva de que Deus não existe. Pior ainda, se Deus é dotado de conhecimento médio, de modo que Ele sabe como qualquer pessoa livre atuaria sob quaisquer circunstâncias nas quais Deus poderia colocá-la, então Deus pode ter providencialmente ordenado o mundo real de tal maneira a fornecer apenas as provas e dádivas do Espírito Santo, pelo que Ele sabia, seriam adequados para trazer aqueles com um coração e mente abertos à fé salvadora. Assim, as provas são tão adequadas quanto precisam ser.
(In)coerência do teísmo. Uma das preocupações centrais da filosofia da religião contemporânea é a coerência do teísmo. Durante a geração anterior, o conceito de Deus fora muitas vezes considerado um terreno fértil para argumentos antiteístas. A dificuldade com o teísmo, dizia-se, não era apenas que não há bons argumentos para a existência de Deus, mas, mais fundamentalmente, que a noção de Deus é incoerente.
Essa crítica antiteísta evocou uma literatura prodigiosa dedicada à análise filosófica do conceito de Deus. Dois controles tendem a orientar esta investigação sobre a natureza divina: as Escrituras e a teologia do ser perfeito. Para pensadores na tradição judaico-cristã, a concepção anselmiana de Deus como o maior ser concebível ou ser mais perfeito tem orientado a especulação filosófica sobre os dados brutos das Escrituras, de modo que os atributos bíblicos de Deus devem ser concebidos de forma a servir para exaltar a grandeza de Deus. Uma vez que o conceito de Deus é subdeterminado pelos dados bíblicos e já que aquilo que constitui uma propriedade "engrandecedora" é até certo ponto discutível, filósofos que atuam dentro da tradição judaico-cristã desfrutam de latitude considerável na formulação de uma doutrina filosoficamente coerente e biblicamente fiel de Deus. Teístas, portanto, acham que as críticas antiteístas de certas concepções de Deus podem, na verdade, ser muito úteis na formulação de uma concepção mais adequada.
Por exemplo, a maioria dos filósofos da religião cristãos hoje se contenta em negar que Deus seja simples ou impassível ou imutável, em qualquer sentido irrestrito — apesar de teólogos medievais terem afirmado tais atributos divinos —, uma vez que estes atributos não são conferidos a Deus na Bíblia (e parecem até incompatíveis com as descrições bíblicas de Deus) e não são claramente engrandecedores. Caso se verifique que certas noções como onipotência ou onisciência sejam inerentemente paradoxais em determinadas definições, que nenhum ser pode ter todos os poderes, digamos, ou saber todas as verdades, esta conclusão, enquanto de interesse acadêmico considerável, no final, será de pouca significação teológica, uma vez que o que Deus não pode fazer ou saber segundo tais explicações é tão recôndito que nenhuma incompatibilidade é, assim, demonstrada com o Deus descrito na Bíblia.
De fato, porém, uma doutrina coerente dos atributos de Deus pode ser formulada. Considere a onipotência, por exemplo. Este atributo resistiu de forma teimosa a uma formulação adequada até a análise de Flint e Freddoso publicada em 1983. Um entendimento fundamento para o conceito de onipotência é que deve ser definido a partir da habilidade de realizar certos estados de coisas, e não a partir de poder bruto. Assim, a onipotência não deve ser entendida como poder ilimitado em sua quantidade ou variedade. Se entendermos onipotência a partir da habilidade de realizar estados de coisas, não será uma diminuição da onipotência de Deus que Ele não possa fazer uma rocha pesada demais para Ele mesmo levantar, pois, dado o fato de que Deus é essencialmente onipotente, "uma rocha pesada demais para Deus levantar" descreve um estado de coisas tão logicamente impossível quanto "um triângulo quadrado" e, assim, não descreve nada.
Devemos dizer, então, que um agente S é onipotente se, e apenas se, S pode realizar qualquer estado de coisas que seja logicamente possível? Não, pois certos estados de coisas podem ser logicamente possíveis, mas, em razão da passagem de tempo, podem não ser mais possíveis de realizar. Chamemos estados de coisas passados que não são indiretamente realizáveis por alguém posterior no tempo como passado "forte". Devemos dizer, então, que um agente S é onipotente em um tempo t se, e apenas se, S pode em t realizar qualquer estado de coisas que seja ampla e logicamente possível para alguém que compartilha o mesmo passado forte com S para realizar em t? Parece que não. Pois suposições acerca de ações livres suscitam outro problema. A pessoa tem controle sobre suposições acerca das próprias decisões livres, mas não sobre suposições acerca das decisões livres de outros. Isto implica que uma definição adequada de onipotência não pode requerer que S seja capaz de realizar estados de coisas descritos por suposições acerca das decisões livres de outros agentes, pois isso seria requerer o logicamente impossível de S. Devemos dizer, então, que S é onipotente em um tempo t se, e apenas se, S pode em t realizar qualquer estado de coisas que seja de modo amplo logicamente possível para S realizar, dado o mesmo passado forte em t e as mesmas suposições verdadeiras sobre as ações livres dos outros? Isto parece quase certo. Mas está aberto a críticas que, se S é essencialmente incapaz de qualquer ação em particular, não importa quão trivial, então a inabilidade de S realizar aquela ação não conta contra sua onipotência. Portanto, precisamos deixar a definição mais ampla a fim de requerer que S realize qualquer ação que qualquer agente em sua situação realizaria. A análise a seguir pareceria satisfatória: S é onipotente em um tempo t se, e apenas se, S pode em t realizar qualquer estado de coisas que não seja descrito por suposições acerca das ações livres de outros e que seja ampla e logicamente possível para alguém realizar, dado o mesmo passado forte em t e as mesmas suposições verdadeiras acerca das ações livres de outros. Tal análise estabelece bem os parâmetros da onipotência de Deus sem impor nenhum limite ilógico em Seu poder.
Ou considere a onisciência. Na definição padrão de onisciência, para cada pessoa S, S é onisciente se, e apenas se, S conhece cada proposição verdadeira e não acredita em qualquer proposição falsa. Nesta definição, a excelência cognitiva de Deus é definida a partir de seu conhecimento proposicional. Algumas pessoas têm observado que onisciência definida desta forma é uma noção inerentemente paradoxal, como o conjunto de todas as verdades. Mas a definição padrão não nos compromete com qualquer tipo de totalidade de todas as verdades, mas meramente com quantificação universal com respeito a verdades: Deus conhece cada verdade. Além disso, a definição padrão não busca nos dar o modo do conhecimento de Deus, mas meramente seu escopo e precisão. Teólogos cristãos tipicamente não pensam no conhecimento de Deus como proposicional por natureza, mas como uma intuição sem divisão da realidade, que nós, conhecedores finitos, representamos a nós mesmos a partir de proposições. Nós expressamos proposicionalmente o que Deus sabe não-proposicionalmente. Nesta visão, não há, de fato, um número infinito de proposições, mas somente tantas proposições quanto seres humanos têm tido conscientemente. De fato, se alguém é um ficcionalista com respeito a objetos abstratos como proposições, então proposições são simplesmente ficções úteis que nós empregamos para descrever os estados de crença das pessoas, e o tapete é puxado de baixo de quaisquer objeções formuladas com base nas presunções platonistas com respeito à realidade de proposições. Finalmente, definições adequadas de onisciência divina ficam a nosso dispor que não fazem menção a qualquer proposição. Charles Taliaferro propõe, por exemplo, que a onisciência seja entendida a partir do poder cognitivo máximo, isto é, uma pessoa S é onisciente se, e somente se, é metafisicamente impossível haver um ser com um poder cognitivo maior do que S e este poder ser completamente exercido.
Portanto, longe de solapar o teísmo, as críticas antiteístas à coerência do teísmo têm servido sobretudo para refinar e fortalecer a crença teísta.
O problema do mal. Sem dúvida, o maior obstáculo para a crença em Deus é o chamado problema do mal. Durante o último quarto de século mais ou menos, uma quantidade enorme de análise filosófica tem sido investida neste problema, tendo como resultado genuíno progresso filosófico quanto à velha questão.
Falando mais amplamente, devemos distinguir entre o problema intelectual do mal e o problema emocional do mal. O problema intelectual do mal diz respeito à maneira de dar uma explicação racional da coexistência de Deus e do mal. O problema emocional do mal diz respeito à maneira de consolar aqueles que sofrem e de dissipar a aversão emocional que as pessoas têm a um Deus que permite o mal.
Pensadores contemporâneos reconhecem que existem versões significativamente diferentes do problema intelectual do mal e lhes têm atribuído diversos rótulos, tais como "dedutivo", "indutivo", "lógico", "probabilístico", "probatório" e assim por diante. Pode ser mais útil distinguir duas formas em que se pode conceber o problema intelectual, quer como problema interno quer como problema externo. Isto é, o problema pode ser apresentado a partir de premissas para as quais o teísta está ou deveria estar comprometido como teísta, de modo que a cosmovisão teísta esteja, de alguma forma, em desacordo consigo mesma; ou pode ser apresentado a partir de premissas com as quais o teísta não está comprometido como teísta, mas que nós, no entanto, temos boas razões para considerar verdadeiras.
Vale a pena notar que tradicionalmente os ateus apresentam o problema do mal como um problema interno para o teísmo. Isto é, ateus afirmam que as declarações
A. Um Deus onipotente, onibenevolente existe.
e
B. A quantidade e os tipos de sofrimento no mundo existem.
ou são logicamente inconsistentes ou improváveis uma em relação à outra. Como resultado do trabalho de filósofos cristãos como Alvin Plantinga, hoje é amplamente reconhecido que o problema interno do mal é um fracasso enquanto argumento a favor do ateísmo. Ninguém foi capaz de mostrar que (A) e (B) são logicamente incompatíveis uma com a outra ou improváveis uma em relação à outra.
Tendo abandonado o problema interno, ateus muito recentemente passaram a defender o problema externo, muitas vezes chamado de problema probatório do mal. Se considerarmos que Deus é essencialmente onipotente e onibenevolente e designarmos de “mal gratuito” o sofrimento que não é necessário para atingir algum bem adequadamente compensador, o argumento pode ser resumido de forma simples:
1. Se Deus existe, o mal gratuito não existe.
2. O mal gratuito existe.
3. Logo, Deus não existe.
O que faz que este seja um problema externo é que o teísta não está comprometido em sua cosmovisão com a verdade de (2). O teísta cristão está comprometido com a verdade de que O mal existe, mas não que O mal gratuito existe. Assim, o ateu alega que o sofrimento no mundo, aparentemente sem sentido e sem necessidade, constitui prova contra a existência de Deus.
Pois bem, a premissa mais controversa neste argumento é (2). Todos admitem que o mundo está cheio de sofrimento aparentemente gratuito. Isto, porém, não implica que estes males aparentemente gratuitos realmente sejam gratuitos. Existem pelo menos três razões para explicar por que é tênue a inferência a partir do mal aparentemente gratuito para o mal genuinamente gratuito.
1. Nós não estamos em boa posição para avaliar com segurança a probabilidade de que Deus não tenha razões moralmente suficientes para permitir o sofrimento no mundo. A improbabilidade da existência de Deus em relação ao mal no mundo depende de quão provável seja que Deus tenha razões morais suficientes para permitir que o mal ocorra. No caso, o que torna a probabilidade tão difícil de avaliar é que nós não estamos numa boa posição epistêmica para fazer esses tipos de julgamentos probabilísticos com nenhuma grau de segurança. Apenas uma mente onisciente poderia compreender as complexidades de guiar providencialmente um mundo de criaturas livres em direção aos seus objetivos previstos. Alguém precisa apenas pensar nas contingências inumeráveis e incalculáveis envolvidas para se chegar a um único evento histórico — digamos, a promulgação da política “Lend-Lease” pelo congresso americano antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nós não temos ideia dos males naturais e morais que podem estar envolvidos para que Deus organize as circunstâncias e seus agentes livres necessários para tal evento. Certamente muitos males nos parecem sem sentido e desnecessários — mas nós simplesmente não estamos numa posição para julgar. Dizer isso não é apelar ao mistério, mas, sim, mostrar as limitações cognitivas inerentes que frustram tentativas de dizer que é improvável que Deus tenha razões moralmente suficientes para permitir algum mal em particular.
Ironicamente, em outros contextos, ateus reconhecem essas limitações cognitivas. Uma das objeções mais danosas à teoria ética utilitarista, por exemplo, é que é simplesmente impossível estimarmos qual ação por nós realizada levará, em última instância, à maior quantidade de felicidade ou prazer no mundo. Por causa das nossas limitações cognitivas, ações que parecem desastrosas a curto prazo podem levar ao bem maior, enquanto uma dádiva a curto prazo pode levar a uma terrível miséria. Quando contemplamos a providência de Deus sobre toda a história, então torna-se evidente quão fútil é para observadores limitados especularem sobre a probabilidade de que algum mal que vemos seja, em última instância, gratuito. Nossa incapacidade de discernir a razão moralmente justificada para a ocorrência de diversos males dá pouquíssima razão para pensar que Deus — especialmente um Deus dotado de conhecimento médio — não tenha razões moralmente suficientes para permitir os males que observamos no mundo.
2. O teísmo cristão implica doutrinas que aumentam a probabilidade da coexistência de Deus e do mal. O ateu mantém que, se Deus existe, é improvável que o mundo contenha os males que tem. Pois bem, o que o teísta cristão pode fazer em resposta a tal afirmação é propor diversas hipóteses que tendam a aumentar a probabilidade do mal dada a existência de Deus: Pr (Mal/Deus&Hipóteses) > Pr (Mal/Deus). O cristão pode tentar mostrar que, se Deus existe e essas hipóteses são verdadeiras, não é nenhuma surpresa que o mal exista. Isto, por sua vez, reduz qualquer improbabilidade que, segundo se pensa, o mal venha a jogar sobre Deus. Essas hipóteses são diversas doutrinas cristãs, de modo que a alegação cristã é que o mal observado no mundo é mais provável no teísmo cristão do que no teísmo simples (ou, então, que essas doutrinas deveriam nos levar a elevar Pr (Mal/Deus), à luz da percepção de que Pr (Mal/Deus cristão) não é tão baixa, no fim das contas). Quatro doutrinas cristãs vem à mente neste sentido.
Primeiro, o propósito principal da vida não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. Uma das razões que faz o problema do mal parecer tão intragável é que as pessoas naturalmente tendem a presumir que, se Deus existe, Seu propósito para o ser humano é a felicidade neste mundo. O papel de Deus é proporcionar um ambiente confortável para seus bichinhos de estimação humanos. Porém, na visão cristã, isto é falso. Não somos os bichinhos de estimação de Deus, e o propósito da vida humana não é felicidade em si mesma, mas o conhecimento de Deus — que, no final, trará verdadeira e eterna realização humana. Muitos males ocorrem na vida que podem ser completamente sem sentido com respeito ao propósito de produzir felicidade humana; mas eles podem não ser sem sentido com respeito à produção de um conhecimento mais profundo e salvífico de Deus. Para ir adiante com seu argumento, o ateu deve agora mostrar que é possível que Deus crie um mundo em que a mesma quantidade de conhecimento de Deus é alcançada, mas com menos mal — o que é mera especulação.
Em segundo lugar, à humanidade foi concedida liberdade moral significativa para se rebelar contra Deus e Seu propósito. Em vez de se submeter e adorar a Deus, as pessoas livremente se rebelam contra Deus e seguem seu próprio caminho, encontrando-se, assim, alienados de Deus, moralmente culpados diante dEle e arrastando-se na escuridão espiritual, atrás de falsos deuses que elas mesmas criaram. Os horrendos males morais no mundo são testemunho da depravação do homem nesse estado de alienação espiritual em relação a Deus. O cristão, portanto, não fica supreso com o mal moral no mundo; pelo contrário, ele o espera.
Em terceiro lugar, o propósito de Deus transborda para a vida eterna. Na visão cristã, esta vida terrena é somente uma preparação momentânea para a vida imortal. Na vida por vir Deus dará àqueles que nEle confiam para a salvação uma vida eterna de alegria indescritível. Dada a promessa da vida eterna, não devemos esperar ver nesta vida a recompensa de Deus para cada mal que experimentamos. Alguns podem ser justificados apenas à luz da eternidade.
Em quarto lugar, o conhecimento de Deus é um bem incomensurável. Conhecer a Deus, o foco da bondade e amor infinitos, é um bem incomparável, a realização da existência humana. Os sofrimentos desta vida não podem nem mesmo se comparar com isso. Assim, a pessoa que conhece a Deus, não importando o que ela sofra, não importando quão horrível seja sua dor, pode ainda verdadeiramente dizer: "Deus é bom para mim!", simplesmente em virtude do fato de que ela conhece a Deus.
Estas quatro doutrinas cristãs aumentam a probabilidade da coexistência de Deus e dos males no mundo. Elas, portanto, servem para diminuir qualquer improbabilidade que estes males possam lançar sobre a existência de Deus. A fim de sustentar seu argumento, o ateu terá de mostrar que estas doutrinas são em si improváveis.
3. Existe maior garantia em acreditar que Deus existe do que em acreditar que o mal no mundo é de fato gratuito. Já foi dito que o modus ponens de um homem é o modus tollens de outro homem. O próprio argumento do ateu pode, assim, voltar-se contra si:
1. Se Deus existe, o mal gratuito não existe.
2*. Deus existe.
3*. Logo, o mal gratuito não existe.
Assim, se Deus existe, o mal no mundo não é de fato gratuito.
Então a questão se resume em qual é verdade: (2) ou (2*)? A fim de provar que Deus não existe, ateus teriam que mostrar que (2) é significativamente mais provável que (2*). Como Daniel Howard-Snyder destaca em seu livro The Evidential Problem of Evil [O problema probatório do mal], um argumento do mal é um problema apenas para a pessoa "que acha que todas suas premissas e inferências são convincentes e que tem fundamentos muito ruins para acreditar no teísmo”. [7] Mas, se alguém tem razões melhores para acreditar que Deus existe, o mal "não é um problema". [8] O teísta cristão pode dizer que, quando levamos em conta todo o escopo dos indícios, a existência de Deus se torna bastante provável, mesmo que o problema do mal, considerado isoladamente, torne a existência de Deus improvável.
Argumentos convincentes a favor do teísmo
A renascença da filosofia cristã durante o último meio século foi acompanhada de uma reapreciação dos argumentos tradicionais a favor da existência de Deus. Limitações de espaço permitem-me mencionar apenas quatro destes argumentos aqui.
Argumento da contingência. Uma declaração simples do argumento pode ser:
1. Tudo o que existe tem uma explicação para sua existência (ou na necessidade de sua própria natureza ou em uma causa externa).
2. Se o universo tem uma explicação para sua existência, esta explicação é Deus.
3. O universo existe.
4. Logo, a explicação para a existência do universo é Deus.
A premissa (1) é uma versão modesta do Princípio da Razão Suficiente. Ela evita as típicas objeções ateístas às versões fortes deste princípio. Pois (1) meramente requer que qualquer coisa existente tenha uma explicação para sua existência. Esta premissa é compatível com a condição de que haja fatos brutos sobre o mundo. O que ela impede é que existam coisas que simplesmente existem sem explicação. Este princípio parece bastante plausível, pelo menos mais do que o seu contrário. Pode-se pensar na ilustração de Richard Taylor de encontrar uma bola translúcida enquanto se caminha pela floresta. A declaração de que a bola simplesmente existe sem explicação seria bastante bizarra; e aumentar o tamanho da bola, até torná-la coextensiva com o cosmo, não faria nada para deixar óbvia a necessidade de uma explicação para sua existência.
A premissa (2) é, de fato, a contraposição da réplica ateísta típica, segundo a qual, na cosmovisão ateísta, o universo simplesmente existe como uma coisa bruta contingente. Além disso, (2) parece bastante plausível por si só. Pois, se o universo, por definição, inclui toda a realidade física, a causa do universo deve (pelo menos causalmente antes da existência do universo) transcender espaço e tempo, e, portanto, não pode ser temporal ou material. Só existem, porém, dois tipos de coisas que poderiam se encaixar em tal descrição: ou um objeto abstrato ou uma mente. Mas objetos abstratos não entram em relações causais. Logo, segue que a explicação para a existência do universo é uma causa externa, transcendente, pessoal — que é um significado de "Deus".
Por último, (3) afirma o óbvio, que existe um universo. Segue que Deus existe.
Está aberto ao ateu responder que, apesar de universo ter uma explicação para sua existência, tal explicação não está num fundamento externo, mas na necessidade de sua própria natureza; em outras palavras, (2) é falsa. Esta é, porém, uma sugestão extremamente audaciosa que ateus não querem muito adotar. Temos, pode-se dizer com segurança, uma forte intuição da contingência do universo. Um mundo possível em que nenhum objeto concreto existe parece certamente concebível. Geralmente confiamos em nossas intuições modais em outros assuntos familiares; se vamos fazer o contrário com respeito à contingência do universo, então o ateu precisa propor alguma razão para tal ceticismo além de seu desejo de evitar o teísmo. Além disso, como veremos abaixo, temos boas razões para pensar que o universo não existe por uma necessidade de sua própria natureza.
Argumento cosmológico. Uma versão simples deste argumento pode ser:
1. Tudo o que começa a existir tem uma causa.
2. O universo começou a existir.
3. Logo, o universo tem uma causa.
A análise conceitual do que significa ser uma causa do universo, então, ajuda a estabelecer algumas das propriedades teológicas significativas deste ser.
A premissa (1) parece obviamente verdadeira — pelo menos, mais do que sua negação. Está enraizado na intuição metafísica que algo não pode vir à existência do nada. Se as coisas realmente pudessem vir à existência incausadas, do nada, tornar-se-ia inexplicável por que justamente nada nem coisa alguma vêm à existência incausadas, do nada. Além disso, a convicção de que uma origem do universo requer uma explicação causal parece bastante razoável, pois na visão ateísta, se o universo começou no Big Bang, não havia nem mesmo potencialidade da existência do universo antes do Big Bang, uma vez que nada é anterior ao Big Bang. Mas, então, como o universo poderia tornar-se real se não havia nem mesmo a potencialidade de sua existência? Faz muito mais sentido dizer que a potencialidade do universo está no poder de Deus para criá-lo. Por fim, a primeira premissa é constantemente confirmada em nossa experiência. Ateus que são naturalistas científicos, então, têm as motivações mais fortes para aceitá-la.
A premissa (2), a mais controversa, pode ser sustentada tanto por argumentos filosóficos dedutivos quanto por argumentos científicos indutivos. Proponentes clássicos do argumento sustentaram que um regresso temporal infinito não pode existir, uma vez que a existência de um número infinito real de coisas, ao contrário de um infinito meramente potencial, leva a absurdos intoleráveis. A melhor forma de sustentar esta afirmação ainda é por meio de experiências mentais, como o famoso Hotel de Hilbert [9], que ilustra os vários absurdos que resultariam se um infinito real fosse instanciado no mundo real. Normalmente se alega que este tipo de argumento foi invalidado pelo trabalho de Georg Cantor sobre o infinito real. A teoria de conjuntos cantoriana, no entanto, pode ser considerada simplesmente um universo de discurso, um sistema matemático baseado em certos axiomas e convenções adotados. O defensor do argumento pode afirmar que, apesar de o infinito real poder até ser um conceito frutífero e coerente dentro do universo postulado de discurso, não pode ser transposto para dentro do mundo espaço-temporal, pois isso envolveria absurdos anti-intuitivos. Ele tem a liberdade de rejeitar visões platônicas de objetos matemáticos em favor de visões não-platonistas, tais como ficcionalismo ou conceitualismo divino combinados com a simplicidade da cognição de Deus.
Um segundo argumento para o começo do universo oferecido por proponentes clássicos é que a série temporal de eventos passados não pode ser um infinito real, porque uma coleção formada por adição sucessiva não pode ser realmente infinita. Às vezes o problema é descrito como a impossibilidade de atravessar o infinito. Para termos "chegado" ao hoje, a existência temporal, por assim dizer, atravessou um número infinito de eventos anteriores. Antes de se chegar ao evento presente, no entanto, seria preciso chegar ao evento imediatamente anterior; e, antes de se chegar a esse evento, seria preciso chegar ao evento imediatamente anterior a ele; e assim por diante ad infinitum. Não se poderia chegar a nenhum evento, uma vez que antes dele aparecer sempre haveria mais um evento que teria de acontecer primeiro. Assim, se a série de eventos passados fosse sem começo, não se poderia ter chegado ao evento presente, o que é absurdo.
A objeção frequente é que este tipo de argumento pressupõe ilicitamente um ponto inicial infinitamente distante no passado e, então, diz ser impossível viajar daquele ponto até hoje, quando na verdade, de qualquer dado ponto no passado, existe apenas uma distância finita até o presente que é facilmente atravessada. Porém, proponentes do argumento não presumiram de fato que havia um ponto inicial infinitamente distante no passado. Atravessar uma distância é atravessar cada parte própria dela. Assim, atravessar não presume que a distância atravessada tenha um ponto inicial ou final ou uma primeira ou última parte. O fato de que não há começo, nem mesmo infinitamente distante, parece apenas piorar o problema, e não melhorá-lo. Dizer que o passado infinito poderia ter sido formado por adição sucessiva é como dizer que alguém acabou de conseguir escrever todos os números negativos, terminando em -1. E podemos perguntar: como é que a alegação de que, para qualquer dado momento no passado, existe apenas uma distância finita até o presente é sequer relevante à questão? Pois a pergunta é como toda a série pode ser formada, e não uma porção finita dela. Pensar que, como todo segmento finito da série pode ser formado por adição sucessiva, toda a série infinita também o pode, é cometer a falácia da composição.
Um terceiro argumento para o começo do universo é um argumento indutivo baseado no indício contemporâneo para a expansão do universo. O modelo padrão do Big Bang não descreve a expansão do conteúdo material do universo num espaço vazio pré-existente, mas, sim, a expansão do próprio espaço. Isso tem a implicação surpreendente de que, quando se extrapola de volta no tempo, a curvatura do espaço-tempo se torna cada vez maior até chegar a uma singularidade, na qual a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. Constitui, portanto, uma borda ou limite para o próprio espaço-tempo.
A história da cosmologia do século XX tem sido, em certo sentido, uma série de tentativas fracassadas de elaborar modelos não-convencionais aceitáveis do universo em expansão a fim de evitar o começo absoluto predito pelo modelo padrão. Apesar de tais teorias serem possíveis, o veredito esmagador da comunidade científica é que nenhum deles é mais provável do que a teoria do Big Bang. Não há modelo matematicamente coerente que tenha tido tanto êxito em suas predições ou tenha sido tão corroborado pelos indícios quanto a teoria tradicional do Big Bang. Por exemplo, algumas teorias, como o universo oscilante (que para sempre se expande e recontrai) ou o universo inflacionário caótico (que continuamente gera novos universos), têm um futuro potencialmente infinito, mas acabam tendo apenas um passado finito. Teorias do universo em flutuação no vácuo (que postulam um vácuo eterno do qual nasce nosso universo) não podem explicar por que, se o vácuo era eterno, nós não observamos um universo infinitamente antigo. A proposta do universo sem limite de Hartle e Hawking, se interpretada realisticamente, ainda envolve uma origem absoluta do universo, mesmo que o universo não comece em uma singularidade, como na teoria padrão do Big Bang. Os cenários recentemente propostos do universo cíclico ecpirótico baseados na teoria de cordas ou teoria-M também têm se mostrado não somente cheios de problemas, mas, o que é mais significativo, como se implicassem a própria origem do universo que seus proponentes procuraram evitar. É claro que resultados científicos são sempre provisórios, mas não há dúvida de que é possível permanecer confortavelmente dentro da corrente principal científica ao afirmar a verdade da premissa (2).
Um quarto argumento para a finitude do passado também é parte de um argumento indutivo, apelando para as propriedades termodinâmicas do universo. De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica, processos ocorrendo em um sistema fechado tendem a estados de entropia mais altos, à medida que sua energia é usada. Já no século XIX, cientistas perceberam que a aplicação da Lei ao universo como um todo (que, segundo suposições naturalistas, é um gigantesco sistema fechado, uma vez que é tudo o que existe) implicava uma conclusão escatológica cruel: dado tempo suficiente, o universo enfim chegaria a um estado de equilíbrio e sofreria uma morte térmica. Tal projeção aparentemente sólida suscitou uma pergunta ainda mais profunda: se, dado tempo suficiente, o universo sofrerá morte térmica, então por que, se ele existe desde sempre, não está agora em estado de morte térmica? O advento da teoria da relatividade alterou o formato do cenário escatológico previsto com base na Segunda Lei, mas não afetou substancialmente esta pergunta fundamental. Indícios astrofísicos indicam de forma esmagadora que o universo se expandirá para sempre. À medida que isso acontece, tornar-se-á cada vez mais frio, escuro, diluído e morto. Por fim, toda a massa do universo não será nada além de um gás fino e frio de partículas elementares e radiação, ficando cada vez mais diluído ao expandir para a escuridão infinita, um universo em ruína.
Isto, porém, leva à pergunta: se numa quantidade finita de tempo o universo atingirá um estado frio, escuro, diluído e sem vida, então por que, se ele existe há um tempo infinito, não está agora neste estado? Se o desejo é evitar a conclusão de que o universo não existe desde sempre, deve-se encontrar uma forma cientificamente plausível de refutar os achados da cosmologia física a fim de permitir que o universo retorne a sua condição jovial. Porém, nenhum cenário realista e plausível está no horizonte. [10] A maioria dos cosmólogos concorda com o físico P. C. W. Davies que, gostemos ou não, parece que somos forçados a concluir que a condição de baixa entropia do universo simplesmente foi "inserida" como condição inicial no momento da criação. [11]
Assim, nós temos bons fundamentos filosóficos e científicos para afirmar a segunda premissa do argumento cosmológico. Vale a pena notar que esta premissa é uma declaração religiosamente neutra, que pode ser encontrada em qualquer apostila de cosmologia astrofísica, de modo que acusações baratas de teologia de um "Deus das lacunas" não têm respaldo. Além disso, uma vez que um ser que existe pela necessidade de sua própria natureza deve existir atemporal ou sempiternamente (doutro modo, sua vinda à existência ou sua cessação de existência tornariam evidente que sua existência não é necessária), segue que o universo não pode ser metafisicamente necessário, um fato que fecha a última brecha no argumento da contingência exposto acima.
Segue, logicamente, que o universo tem uma causa. Análise conceitual de quais propriedades devem ser possuídas por tal causa ultramundana nos permite descobrir um número impressionante dos atributos divinos tradicionais, revelando que, se o universo tem uma causa, então um criador pessoal incausado do universo, que, sem o universo, é sem começo, sem mudança, imaterial, atemporal, sem espaço e tremendamente poderoso. [12]
Argumento teleológico. Podemos formular um argumento do projeto como segue:
1. A sintonia fina do universo é devida à necessidade física, ao acaso ou ao projeto.
2. Ela não é devida à necessidade física ou ao acaso.
3. Logo, é devida ao projeto.
O que se quer dizer com "ajuste fino"? As leis físicas da natureza, quando recebem expressão matemática, contêm diversas constantes, tais como a constante gravitacional, cujos valores são independentes das próprias leis; além disso, existem certas quantidades arbitrárias que são simplesmente inseridas como condições limítrofes sobre as quais as leis da natureza operam — por exemplo, a condição de baixa entropia original do universo. Com "ajuste fino" se quer dizer que os valores reais assumidos pelas constantes e quantidades em questão são tais que pequenos desvios daqueles valores tornariam o universo desfavorável à vida ou, então, são tais que a gama de valores propícios à vida é extraordinariamente estreita em comparação com a gama de valores que poderiam ser assumidos.
Leigos talvez pensem que, se as constantes e quantidades tivessem assumido valores diferentes, outras formas de vida poderiam muito bem ter evoluído, mas este não é o caso. Com "vida" cientistas querem dizer aquela propriedade de organismos de ingerir alimento, dele extrair energia, crescer, adaptar-se a seu ambiente e reproduzir-se. A ideia é que, para o universo permitir vida assim definida, qualquer que seja a forma que o organismo assuma, as constantes e quantidades tem de ser ajustadas finamente de modo impressionante. Na ausência de ajuste fino, nem mesmo a matéria ou a química existiriam, sem contar os planetas onde a vida pudesse evoluir.
Objeta-se que, em universos regidos por leis da natureza diferentes, tais consequências deletérias podem não ocorrer, ao variar os valores das constantes e quantidades. O teleólogo não precisa negar a possibilidade, pois tais universos são irrelevantes ao seu argumento. Tudo o que ele precisa mostrar é que, entre universos possíveis regidos pelas mesmas leis (mas tendo valores diferentes das constantes e quantidades) do universo real, universos propícios à vida são extraordinariamente improváveis.
Agora a premissa (1) coloca as três alternativas na gama de opções viáveis para explicar o ajuste fino cósmico. A pergunta é qual é a melhor explicação.
À primeira vista, a alternativa da necessidade física parece extraordinariamente inverossímil. Como já vimos, os valores das constantes e quantidades físicas são independentes das leis da natureza. Se a matéria primordial e a antimatéria tivessem sido proporcionadas de forma diferente, se o universo tivesse expandido um pouco mais lentamente, se a entropia do universo fosse marginalmente maior, qualquer um desses ajustes e mais teriam evitado um universo propício à vida; porém, tudo parece perfeitamente possível do ponto de vista físico. Quem sustenta que o universo deva necessariamente ser propício à vida está seguindo uma linha radical que requer forte prova. Até agora, contudo, ela não existe; esta alternativa é exposta como praticamente impossível.
Por vezes, físicos falam de uma Teoria de Tudo (TDT) ainda a ser descoberta, mas tal nomenclatura é, como tantos dos nomes pitorescos dados a teorias científicas, bem ilusória. Uma TDT na verdade tem o objetivo limitado de propor uma teoria unificada das quatro forças fundamentais da natureza, mas nem mesmo tentará explicar literalmente tudo. Por exemplo, nos candidatos mais promissores a uma TDT até hoje, a teoria das supercordas ou teoria-M, o universo físico deve ser endecadimensional (ou seja, possuir onze dimensões), mas por que o universo deve possuir exatamente esse número de dimensões não é explicado pela teoria. A teoria-M simplesmente substitui ajuste fino geométrico por ajuste fino de forças.
Além disso, parece provável que qualquer tentativa de reduzir significaticamente o ajuste fino acabará envolvendo ajuste fino. Isso certamente foi o padrão no passado. À luz da especifidade e número de casos de ajuste fino, é improvável que ele desapareça com o avanço da teoria física.
O que falar, então, do acaso? Teleólogos procuram eliminar esta hipótese, quer apelando para uma complexidade específica do ajuste fino cósmico (uma abordagem estatística à inferência do projeto), quer argumentando que o ajuste fino é significativamente mais provável pelo projeto (teísmo) do que pela hipótese do acaso (ateísmo) (uma abordagem bayesiana). Comum às duas abordagens é a afirmação de que o universo propício à vida é altamente improvável.
Para salvar a hipótese do acaso, defensores desta alternativa recorrem cada vez mais à hipótese dos muitos mundos, de acordo com a qual um conjunto de mundos de universos concretos existe, multiplicando, assim, os recursos probabilísticos. A fim de garantir que apenas pelo acaso um universo como o nosso apareceria de algum lugar neste conjunto, um número realmente infinito de tais universos normalmente é postulado. Mas isso não é suficiente; deve-se também postular que estes mundos são ordenados aleatoriamente com respeito aos valores de suas constantes e quantidades, a menos que exista uma variedade insuficiente para incluir um universo propício à vida.
A hipótese dos muitos mundos é uma explicação tão boa quanto a hipótese do projeto?
Parece duvidoso. Em primeiro lugar, enquanto hipótese metafísica, a hipótese dos muitos mundos é indiscutivelmente inferior à hipótese do projeto, porque esta última é mais simples. De acordo com a Navalha de Occam, não devemos multiplicar causas além do que é necessário para explicar o efeito. É mais simples, porém, postular um Arquiteto Cósmico para explicar nosso universo do que postular a ontologia infinitamente inchada e maquinada da hipótese dos muitos mundos. Apenas se o teórico dos muitos mundos pudesse mostrar que existe um único mecanismo comparavelmente simples para gerar um conjunto de mundos de universos aleatoriamente variados é que ele seria capaz de evitar tal dificuldade.
Em segundo lugar, não existe uma forma conhecida de gerar um conjunto de mundos. Ninguém foi capaz de explicar como ou por que tal coleção de universos variados deveria existir. Algumas propostas, como o cenário evolucionário cósmico de Lee Smolin, na verdade serviram para extirpar universos propícios à vida, enquanto outras, como o cenário inflacionário caótico de Andrei Linde, acabou exigindo ajuste fino.
Em terceiro lugar, não há indícios para a existência de um conjunto de mundos sem o ajuste fino em si. Mas o ajuste fino é igualmente indício de um Arquiteto Cósmico. De fato, a hipótese de um Arquiteto Cósmico é novamente a melhor explicação do porquê termos indícios independentes para a existência de tal ser nos outros argumentos teístas.
Em quarto lugar, se nosso universo é somente um membro de um infinito conjunto de mundos de universos aleatoriamente variados, é surpreendentemente mais provável que nós devêssemos estar observando um universo muito diferente do que aquele que de fato observamos. Roger Penrose calcula que a chance da condição de baixa entropia do universo ser obtida apenas pelo acaso é da ordem de 1:1010(123), um número inconcebível. Em comparação, as chances de nosso sistema solar ser formado instantaneamente por colisões de partículas aleatórias é, de acordo com Penrose, de cerca de 1:1010(60), um número vasto, mas inconcebivelmente menor do que 1:1010(123). Se nosso universo fosse apenas um membro de uma coleção de mundos aleatoriamente ordenada, é muito mais provável que devêssemos estar observando um universo muito menor. Adotar a hipótese dos muitos mundos para descartar o ajuste fino, então, resultaria num ilusionismo bizarro: é muito mais provável que todas as nossas estimativas de idade astronômicas, geológicas e biológicas estejam erradas e que a aparência do nosso universo grande e antigo seja uma enorme ilusão. Ou, então, se nosso universo é apenas um membro de um conjunto de mundos, deveríamos estar observando eventos muitíssimo extraordinários, como cavalos vindo à existência e deixando de existir por colisões aleatórias, ou máquinas de movimento perpétuo, uma vez que estes são muito mais prováveis do que todas as constantes e quantidades da natureza, estando por acaso na extensão praticamente infinitésima que é propícia à vida. Universos observáveis como aqueles são muito mais abundantes no conjunto de universos do que mundos como o nosso e, portanto, deveriam ser observados por nós se o universo fosse apenas um membro de um conjunto de mundos. Uma vez que nós não temos tais observações, este fato solidamente invalida a hipótese do multiverso. No ateísmo, pelo menos, é muitíssimo provável que não exista tal conjunto de mundos. Penrose conclui que explicações antrópicas são tão "impotentes" que é, na verdade, “equivocado” apelar para elas a fim de explicar as características especiais do universo. [13] Assim, a hipótese dos muitos mundos fracassa como explicação plausível para o ajuste fino cósmico.
Parece, portanto, que o ajuste fino do universo não é com nenhuma plausibilidade devido nem à necessidade física, nem ao acaso. A menos que seja possível demonstrar que a hipótese do projeto é ainda mais implausível do que suas concorrentes, segue que o ajuste fino é devido ao projeto.
Argumento moral. Teístas apresentam uma variedade de justificações morais para a crença numa divindade. Um destes argumentos pode ser formulado como segue:
1. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem.
2. Valores e deveres morais objetivos existem.
3. Logo, Deus existe.
Considere a premissa (1). Falar em valores e deveres morais objetivos é dizer que distinções morais entre o que é bom e mau ou certo e errado são independentes do que qualquer ser humano acredita sobre tais distinções. Muitos teístas e ateístas concordam igualmente que, se Deus não existe, valores e deveres morais não são objetivos nesse sentido.
Isso porque, se Deus não existe, qual o fundamento para os valores morais? Mais especificamente, qual é a base para o valor dos seres humanos? Se Deus não existe, é difícil ver qualquer razão para pensar que seres humanos são especiais ou que sua moralidade é objetivamente válida. Além do mais, por que pensar que nós temos quaisquer obrigações morais para fazer qualquer coisa? Quem ou o que nos impõe quaisquer deveres morais? Em decorrência de pressões sociobiológicas, evoluiu no homo sapiens um tipo de "moral de rebanho", que funciona bem na perpetuação da nossa espécie na luta pela sobrevivência? Não parece haver, porém, nada no homo sapiens que torne essa moralidade objetivamente obrigatória. Se o filme da história evolutiva fosse rebobinado e filmado novamente, criaturas muito diferentes com um conjunto de valores muito diferente poderiam muito bem ter evoluído. Com que direito podemos considerar nossa moralidade como objetiva, em vez da deles? Conforme expressa o filósofo humanista Paul Kurt, "a questão central quanto a princípios morais e éticos diz respeito a seu fundamento ontológico. Se eles não são derivados de Deus nem ancorados em algum fundamento transcendente, será que eles são puramente efêmeros?”. [14]
Alguns filósofos, igualmente contrários tanto a valores morais existindo transcendentalmente quanto ao teísmo, tentam manter a existência de princípios morais objetivos ou propriedades morais supervenientes no contexto de uma cosmovisão naturalista. Os defensores de tais teorias, no entanto, tipicamente ficam perdidos ao justificar seu ponto de partida. Se Deus não existe, é difícil ver qualquer fundamento para pensar que a moral de rebanho evoluída no homo sapiens seja objetivamente verdadeira, ou que a bondade moral aconteça em certos estados naturais de tais criaturas. Expresso de forma nua e crua, na visão ateísta humanos são apenas animais; e animais não são agentes morais.
Se nossa abordagem à teoria metaética deve ser metafísica séria, em vez de apenas uma abordagem ao estilo "lista de compras", na qual a pessoa se serve de propriedades morais supervenientes ou princípios necessários para fazer o serviço, algum tipo de explicação é exigida para o porquê de propriedades morais seguirem certos estados naturais ou para o porquê de tais princípios serem verdadeiros. [15] É insuficiente para o naturalista apontar para o fato de que nós, de fato, apreendemos a bondade de alguma característica da existência humana, pois isso apenas estabelece a objetividade de valores e deveres morais, o que simplesmente é a premissa (2) do argumento moral.
Precisamos, portanto, indagar se valores e deveres morais podem ser plausivelmente ancorados em algum fundamento transcendente não-teísta. Chamemos esta visão de Realismo Moral Ateísta. Realistas morais ateístas afirmam que valores e deveres morais existem e não são dependentes da evolução ou de opinião humana, mas insistem que não são fundamentados em Deus. De fato, valores morais têm outro fundamento. Eles simplesmente existem.
É difícil, porém, até mesmo compreender tal visão. O que quer dizer, por exemplo, que o valor moral Justiça simplesmente existe? É difícil entender isso. É muito óbvio o que se deseja afirmar quando se diz que uma pessoa é justa; porém, é desconcertante quando se diz que, na ausência de qualquer pessoa, a Justiça em si exista.
Em segundo lugar, a natureza da obrigação moral parece incompatível com o Realismo Moral Ateísta. Suponha que valores como Misericórdia, Justiça, Paciência, entre outros, simplesmente existam. Como isso me resulta em qualquer obrigação moral? Por que eu teria um dever moral, digamos, de ser misericordioso? Quem ou o quê coloca tal obrigação sobre mim? Nesta visão, vícios morais como Ganância, Ódio e Egoísmo presumivelmente também existem como objetos abstratos. Por que é que eu sou obrigado a alinhar a minha vida a um conjunto desses objetos, existentes de forma abstrata, em vez de qualquer outro? Em contraste com o ateu, o teísta pode fazer entender o sentido da obrigação moral, porque os mandamentos de Deus podem ser vistos como constituintes de nossos deveres morais.
Em terceiro lugar, é fantasticamente improvável que exatamente este tipo de criatura que corresponde à esfera de valores morais, existindo de forma abstrata, emergiria do processo evolutivo cego. Essa parece ser uma coincidência completamente incrível quando se pensa a seu respeito. É quase como se a esfera moral soubesse que nós estávamos chegando. É muito mais plausível considerar tanto a esfera natural quanto a esfera moral como se estivessem debaixo da hegemonia de um criador e legislador divino do que pensar que estas duas ordens da realidade, completamente independentes calharam de se enredar.
Apesar da metaética teísta assumir uma rica variedade de formas, houve nos últimos anos um renascimento do interesse na moralidade da ordem divina, que compreende nossos deveres morais como nossas obrigações para com Deus à luz de Suas ordens morais — por exemplo, "Amarás teu próximo como a ti mesmo", e assim por diante. Nossos deveres morais são constituídos pelas ordens de um Deus imparcial e amoroso. Para qualquer ação A e agente moral S, podemos explicar as noções de obrigação moral, permissão e proibição de A para S:
A é exigido de S, se e apenas se, um Deus imparcial e amoroso ordena S fazer A.
A é permitido para S, se e apenas se, um Deus imparcial e amoroso não ordena S não fazer A.
A é proibido para S, se e apenas se, um Deus imparcial e amoroso ordena S não fazer A.
Uma vez que nossos deveres morais são fundamentados nas ordens divinas, eles não são independentes de Deus, nem tampouco Deus está sujeito a deveres morais, visto que Ele não dá ordens a Si mesmo. As ordens de Deus também não são arbitrárias, já que se tratam de expressões necessárias de Sua natureza.
A pergunta que pode ser levantada é por que a natureza de Deus deve ser considerada a definição do bem. Porém, a menos que sejamos niilistas, temos de reconhecer algum padrão último de valor, e Deus parece ser o ponto de chegada menos arbitrário. Além disso, a natureza de Deus é a única apropriada para servir como tal padrão. Isto porque, por definição, Deus é o maior ser concebível, e é melhor ser o paradigma de valor moral do que meramente se conformar a tal padrão. Mais especificamente, Deus é por definição um ser digno de adoração. E apenas um ser que é o foco e fonte de todo o valor é digno de adoração.
Argumentos tradicionais a favor da existência de Deus tais como os acima, sem contar novos argumentos criativos, estão bem vivos no cenário contemporâneo da filosofia anglo-americana. Juntamente ao fracasso dos argumentos antiteístas, eles ajudam a explicar o renascimento do interesse no teísmo.
-
[1]
Paul Benacerraf, "What Mathematical Truth Could Not Be—I”, em Benacerraf and His Critics, ed. Adam Morton e Stephen P. Stich (Oxford: Blackwell: 1996), p. 18.
Paul Benacerraf, "What Mathematical Truth Could Not Be—I”, em Benacerraf and His Critics, ed. Adam Morton e Stephen P. Stich (Oxford: Blackwell: 1996), p. 18.
-
[2]
A mudança não passou despercebida nem mesmo na cultura popular. Em 1980, a revista Time publicou uma matéria extensa intitulada "A modernização da defesa de Deus", em que descreveu o movimento entre filósofos contemporâneos para renovar os argumentos tradicionais a favor da existência de Deus. A Time ficou admirada: "Em uma silenciosa revolução de pensamento e argumento que quase ninguém poderia ter previsto apenas duas décadas atrás, Deus está voltando. De forma mais intrigante, isto está acontecendo não entre teólogos ou crentes comuns, mas nos resolutos círculos intelectuais de filósofos acadêmicos, onde o consenso tinha, há muito tempo, banido o Todo-poderoso de discurso produtivo" ("Modernizing the Case for God”, Time [7 de abril de 1980], pp. 65-66). O artigo cita o saudoso Roderick Chisholm dizendo que a razão para a qual o ateísmo tinha tanta influência uma geração atrás era porque o filósofos mais inteligentes eram ateus; hoje, porém, em sua opinião, muitos dos filósofos inteligentes são teístas, usando um intelectualismo robusto em defesa daquela crença, algo que anteriormente faltava no seu lado do debate.
A mudança não passou despercebida nem mesmo na cultura popular. Em 1980, a revista Time publicou uma matéria extensa intitulada "A modernização da defesa de Deus", em que descreveu o movimento entre filósofos contemporâneos para renovar os argumentos tradicionais a favor da existência de Deus. A Time ficou admirada: "Em uma silenciosa revolução de pensamento e argumento que quase ninguém poderia ter previsto apenas duas décadas atrás, Deus está voltando. De forma mais intrigante, isto está acontecendo não entre teólogos ou crentes comuns, mas nos resolutos círculos intelectuais de filósofos acadêmicos, onde o consenso tinha, há muito tempo, banido o Todo-poderoso de discurso produtivo" ("Modernizing the Case for God”, Time [7 de abril de 1980], pp. 65-66). O artigo cita o saudoso Roderick Chisholm dizendo que a razão para a qual o ateísmo tinha tanta influência uma geração atrás era porque o filósofos mais inteligentes eram ateus; hoje, porém, em sua opinião, muitos dos filósofos inteligentes são teístas, usando um intelectualismo robusto em defesa daquela crença, algo que anteriormente faltava no seu lado do debate.
-
[3]
Quentin Smith, "The Metaphilosophy of Naturalism", Philo 4/2 (2001): 3-4. Um sinal dos tempos: a própria Philo, incapaz de se manter como órgão secular, agora se tornou um periódico para filosofia geral da religião.
Quentin Smith, "The Metaphilosophy of Naturalism", Philo 4/2 (2001): 3-4. Um sinal dos tempos: a própria Philo, incapaz de se manter como órgão secular, agora se tornou um periódico para filosofia geral da religião.
-
[4]
Ibid., p. 4.
Ibid., p. 4.
-
[5]
Um dos avanços mais significativos na epistemologia da religião contemporânea é a chamada epistemologia reformada, liderada e desenvolvida por Alvin Plantinga, que diretamente ataca a interpretação probatória da racionalidade. Em relação à crença de que Deus existe, Plantinga defende que Deus nos constituiu de tal forma que naturalmente formamos esta crença sob certas circunstâncias; uma vez que a crença é assim formada por faculdades cognitivas funcionando apropriadamente em um ambiente apropriado, ela nos é garantida, e, na medida em que nossas faculdades não estão afetadas pelos efeitos noéticos do pecado, devemos acreditar nessa proposição profunda e firmemente, de modo que se pode dizer que nós, em virtude da grande garantia acumulada para essa crença para nós, sabemos que Deus existe.
Um dos avanços mais significativos na epistemologia da religião contemporânea é a chamada epistemologia reformada, liderada e desenvolvida por Alvin Plantinga, que diretamente ataca a interpretação probatória da racionalidade. Em relação à crença de que Deus existe, Plantinga defende que Deus nos constituiu de tal forma que naturalmente formamos esta crença sob certas circunstâncias; uma vez que a crença é assim formada por faculdades cognitivas funcionando apropriadamente em um ambiente apropriado, ela nos é garantida, e, na medida em que nossas faculdades não estão afetadas pelos efeitos noéticos do pecado, devemos acreditar nessa proposição profunda e firmemente, de modo que se pode dizer que nós, em virtude da grande garantia acumulada para essa crença para nós, sabemos que Deus existe.
-
[6]
Sobre a ressurreição de Jesus, ver N. T. Wright, Christian Origins and the Question of God, vol. 3: The Resurrection of the Son of God (Mineápolis: Fortress Press, 2003).
Sobre a ressurreição de Jesus, ver N. T. Wright, Christian Origins and the Question of God, vol. 3: The Resurrection of the Son of God (Mineápolis: Fortress Press, 2003).
-
[7]
Daniel Howard-Snyder, "Introduction”, em The Evidential Argument from Evil, ed. Daniel Howard-Snyder (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1996), p. xi.
Daniel Howard-Snyder, "Introduction”, em The Evidential Argument from Evil, ed. Daniel Howard-Snyder (Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1996), p. xi.
-
[8]
Ibid. O cristão teísta insistirá, portanto, que ao avaliar o problema externo do mal, consideremos não somente o mal no mundo, mas todas os indícios relevantes à existência de Deus, incluindo o argumento da contingência a favor de uma Razão Suficiente para o porquê de alguma coisa existir, em vez de nada, o argumento cosmológico a favor de um Criador do universo, o argumento teleológico a favor de um Arquiteto inteligente do cosmo, o argumento axiológico a favor de um Bem último e pessoal, o argumento não-lógico a favor uma Mente última, o argumento epistemológico a favor de um Arquiteto de nossas faculdades cognitivas guiadas pela verdade, o argumento ontológico a favor de um Ser Maximamente Grande, assim como indícios relacionados à pessoa de Cristo, a historicidade da ressurreição, a existência de milagres e, além disso, experiências existenciais e religiosas.
Ibid. O cristão teísta insistirá, portanto, que ao avaliar o problema externo do mal, consideremos não somente o mal no mundo, mas todas os indícios relevantes à existência de Deus, incluindo o argumento da contingência a favor de uma Razão Suficiente para o porquê de alguma coisa existir, em vez de nada, o argumento cosmológico a favor de um Criador do universo, o argumento teleológico a favor de um Arquiteto inteligente do cosmo, o argumento axiológico a favor de um Bem último e pessoal, o argumento não-lógico a favor uma Mente última, o argumento epistemológico a favor de um Arquiteto de nossas faculdades cognitivas guiadas pela verdade, o argumento ontológico a favor de um Ser Maximamente Grande, assim como indícios relacionados à pessoa de Cristo, a historicidade da ressurreição, a existência de milagres e, além disso, experiências existenciais e religiosas.
-
[9]
A história do Hotel de Hilbert está relatada em George Gamow, One, Two, Three, Infinity (Londres: Macmillan, 1946), 17.
A história do Hotel de Hilbert está relatada em George Gamow, One, Two, Three, Infinity (Londres: Macmillan, 1946), 17.
-
[10]
Veja a pesquisa de opiniões em meu "Time, Eternity, and Eschatology”, em Oxford Handbook on Eschatology, ed. J. Walls (Oxford: Oxford University Press, forthcoming).
Veja a pesquisa de opiniões em meu "Time, Eternity, and Eschatology”, em Oxford Handbook on Eschatology, ed. J. Walls (Oxford: Oxford University Press, forthcoming).
-
[11]
P. C. W. Davies, The Physics of Time Asymmetry (Londres: Surrey University Press, 1974), p. 104.
P. C. W. Davies, The Physics of Time Asymmetry (Londres: Surrey University Press, 1974), p. 104.
-
[12]
Ver argumentos em meu artigo "Naturalism and Cosmology”, em Analytic Philosophy without Naturalism, ed. A. Corradini, S. Galvan e J. Lowe (Londres: Routledge, 2005).
Ver argumentos em meu artigo "Naturalism and Cosmology”, em Analytic Philosophy without Naturalism, ed. A. Corradini, S. Galvan e J. Lowe (Londres: Routledge, 2005).
-
[13]
Roger Penrose, The Road to Reality (New York: Alfred A. Knopf, 2005), pp. 762-5.
Roger Penrose, The Road to Reality (New York: Alfred A. Knopf, 2005), pp. 762-5.
-
[14]
Paul Kurtz, Forbidden Fruit (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1988), p. 65.
Paul Kurtz, Forbidden Fruit (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1988), p. 65.
-
[15]
Alguns filósofos parecem supor que verdades morais, sendo necessariamente verdade, não podem ter uma explicação para sua verdade. O pressuposto crucial de que verdades necessárias não podem entrar em relação de prioridade explanatória uma com a outra não é apenas não evidentemente verdadeiro, mas parece simplesmente falso. Por exemplo, a proposição Uma pluralidade de pessoas existe é necessariamente verdadeira (num sentido lógico amplo) porque Deus existe é necessariamente verdadeira e Deus é essencialmente uma Trindade. Para dar um exemplo não-teológico, em cenário não-ficcionalista, 2+3=5 é necessariamente verdadeira porque os axiomas de Peano para aritmética padrão são necessariamente verdadeiros. Ou ainda: Nenhum evento precede a si mesmo é necessariamente verdadeira porque Tornar-se temporal é característica essencial e objetiva do tempo é necessariamente verdadeira. Seria completamente implausível sugerir que a relação de prioridade explanatória obtida entre as proposições relevantes é simétrica.
Alguns filósofos parecem supor que verdades morais, sendo necessariamente verdade, não podem ter uma explicação para sua verdade. O pressuposto crucial de que verdades necessárias não podem entrar em relação de prioridade explanatória uma com a outra não é apenas não evidentemente verdadeiro, mas parece simplesmente falso. Por exemplo, a proposição Uma pluralidade de pessoas existe é necessariamente verdadeira (num sentido lógico amplo) porque Deus existe é necessariamente verdadeira e Deus é essencialmente uma Trindade. Para dar um exemplo não-teológico, em cenário não-ficcionalista, 2+3=5 é necessariamente verdadeira porque os axiomas de Peano para aritmética padrão são necessariamente verdadeiros. Ou ainda: Nenhum evento precede a si mesmo é necessariamente verdadeira porque Tornar-se temporal é característica essencial e objetiva do tempo é necessariamente verdadeira. Seria completamente implausível sugerir que a relação de prioridade explanatória obtida entre as proposições relevantes é simétrica.

